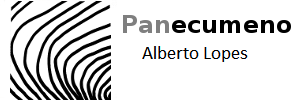Favelas e outros abrigos da pobreza
São muitos os estudos, pesquisas, teses e ensaios acadêmicos já realizados que procuram avaliar impactos de projetos urbanos onde a realização de obras e melhorias urbanísticas se depara com o enfrentamento de diversas formas de manifestação da pobreza crônica no país. O caso clássico é o das intervenções em favelas e da construção de moradias em geral para os pobres, mas também pode ser observado em projetos de revitalização de centros históricos ou áreas centrais degradadas de algumas grandes cidades. Em ambos os casos, mas também em outros, já há uma notável experiência onde as lições, desde a busca comprometida do êxito até a escamoteação flagrante do fracasso anunciado, estão à disposição dos estudiosos, administradores urbanos e todos aqueles que produzem e consomem a cidade.
No caso das favelas, trata-se de assentamentos que já surgiram, há mais de um século, como alternativas para a população pobre, com acesso restrito ao mercado imobiliário e de bens de consumo formal, induzindo, pelo menos nos seus primórdios, a uma identificação quase direta entre expressão social e expressão urbanística do fenômeno da pobreza. O caso dos centros históricos exige uma observação mais atenta, pois o aparecimento de significativos contingentes de pobres vivendo nesses conjuntos arquitetônicos notáveis não correspondeu às expectativas para as quais aqueles edifícios foram originalmente criados.
As favelas surgiram na indigência e se desenvolveram como fenômenos urbanos ascendentes, acumulando alguns investimentos de agentes públicos e privados e, sobretudo, da sua própria população (salvo, evidentemente, nos casos radicais de remoção). Muitos centros históricos, ao contrário, construídos para o fausto entraram depois em decadência, abrigando cortiços, comércio e serviços que, muitas das vezes, identificados com a economia e a estética da pobreza, não respondem a exigências mínimas de manutenção dos edifícios que ocupam. O processo de degradação do patrimônio construído, em algumas cidades, vem atingindo hoje mesmo setores de bairros ditos “formais”, onde surgem novos pobres urbanos. Enquanto importantes iniciativas do poder público investem na transformação de favelas em bairros, setores de bairros das mesmas cidades sofrem um processo de “enfavelamento”. É como enxugar gelo, uma vez que a pobreza se manifesta hoje em lugares que a ela não estavam antes associados. O fato é que hoje há imóveis em centros históricos e outras áreas degradadas das cidades menos valorizados do que alguns imóveis em favelas.
Para a favela, o tempo político impôs uma expectativa já secular e insustentável de um dia se configurar e ser reconhecida como bairro. Mesmo em favelas já contempladas com significativas obras públicas, a imagem desses lugares costuma ser de uma urbanização inacabada, uma vez que não se completa um ciclo de melhorias que se sustente depois com uma boa manutenção. Vale observar o contraste desse processo lento verificado em favelas com o que ocorre em áreas centrais das cidades, onde vigora a “ética da destruição criadora”, ou seja, o que está aparentemente pronto é destruído para abrir espaço a modernizações periódicas em face de exigências novas de cada contexto.
Para os centros históricos, ameaçados pela implacabilidade do tempo e por um uso social que hoje não faz jus à sua pompa, um novo ideário de gestão urbana, de cunho neo-iluminista, programa agora aquilo que Otília Arantes chamou de “uma segunda juventude cosmopolita”. Em muitos desses locais, o patrimônio cultural costuma ser revitalizado para recuperar o espetáculo da cidade para o flâneur e o turista de ocasião. Os resíduos de pobreza e toda sorte de “desvios” sociais não incorporados à lógica do projeto, ou são pressionados a sair ou passam a figurar como ameaça à nova ordem que se quer instaurar.
Em São Luis, no Maranhão, o centro histórico, declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, pela UNESCO, as melhorias realizadas promoveram uma recuperação básica de imóveis, com a instalação de órgãos dos governos municipal, estadual e federal, atividades comerciais e de serviços atrativas para o turismo. O projeto logrou ainda afirmar expressões culturais genuinamente locais, produzidas por populares. Vale destacar que essas intervenções incidem na preservação da forma mas também na seleção de funções e atividades urbanas para os edifícios e os espaços públicos que, ao fim e ao cabo, guardam vínculos com a dinâmica social e econômica da cidade. No entanto, a persistência de população pobre ocupando edifícios, inclusive para moradia, que não estão programados para ela, é decisiva para a insustentabilidade da preservação de boa parte do patrimônio arquitetônico do centro histórico.
Apenas para não deixar de fazer referência a um caso emblemático no resto da América Latina, onde a situação se repete, em Quito, no Equador, a riqueza do patrimônio cultural do centro histórico, o primeiro declarado Patrimônio Cultural da Humanidade, contrasta com a pobreza social e econômica da população e de muitas das atividades ali presentes. Comércio e serviços sofisticados se concentraram mais nos shopping centers e outras zonas da cidade. Os esforços do Fundo de Salvamento do Patrimônio Cultural (FONSAL), implementado no início dos anos de 1990, com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), promoveram a recuperação do patrimônio, gerando inclusive trabalho para muitos, mas não foram suficientes para reverter a tensão entre a necessidade permanente de manutenção dos prédios e a capacidade de investimento dos proprietários e usuários, situação que havia se agravado com o terremoto de 1987.
Da negação pura e simples da existência da pobreza nessas áreas das cidades às iniciativas pioneiras de tomar o assunto como uma questão a ser enfrentada pelas políticas nacionais e urbanas, passaram-se muitos anos. Aqueles que já se aprofundaram em leituras críticas e teóricas sobre o assunto sabem o quanto já se investiu tanto na tentativa de compreensão desses fenômenos quanto na busca de caminhos que possam ir além da (re)forma desses espaços na direção de políticas urbanas que ampliem de fato os horizontes sociais dos mais pobres e afirmem uma ordem de valores que promova a sustentabilidade do desenvolvimento urbano.
Forma urbana e processo social: contra os determinismos
O panorama da literatura sobre o assunto aponta pelo menos duas vertentes de pensamento, uma tendendo a professar a crença no determinismo das formas espaciais e outra no determinismo do processo social. O que está em discussão é o papel de sujeitos no processo de mudanças sociais. Essas vertentes, no entanto, não se apresentam em estado puro. Ora enfatizam o papel da materialidade e da expressão física dessa obra humana complexa que é a cidade, ora enfatizam o papel da dinâmica social que procura justificá-la e dar-lhe sentido. O melhor dessa crítica, contudo, propõe considerar as múltiplas interações entre a materialidade da cidade e o processo social.
Como, desde a Revolução Urbana, surgida com o advento da agricultura e da criação de animais, a sociedade se expressa em formas espaciais, o processo urbano constitui uma permanente interação entre a dinâmica social e as formas que lhe servem como abrigo, suporte e condição. Foi a transição do modo de vida nômade para o sedentário, ocorrida com a Revolução Urbana, naquele período do processo civilizatório de cerca de dez mil anos atrás, que passou a exigir o abrigo fixo das atividades humanas. A passagem do estado de natureza ao estado de cultura gerou dois fatos significativos para a experiência humana no ecúmeno: a delimitação de territórios mais precisos de interesse à subsistência e a criação de instalações e artefatos não-naturais de abrigo, primeiro com valor de uso e depois também com valor de troca comercial.
A partir de então, a aventura humana passou a depender visceralmente das condições materiais do habitat para a realização da vida. Uma vez que a natureza e a razão de existência da cidade é instaurar meios de vida coletivos, sua fundação e seu desenvolvimento sempre estiveram submetidos ao jogo e ao combate entre projetos, estratégias e interesses ora confluentes, ora antagônicos. Em alguns casos, a fundação e o planejamento de cidades se fizeram mesmo em oposição a outras por enfrentamento comercial ou bélico.
Ao longo da história, têm surgido desde modelos espaciais prontos até mesmo propostas mais ou menos articuladas de ação política que procuraram impor-se de modo sistemático como saídas salvadoras para as cidades. Basta voltar à história das utopias urbanas para ver o quanto já se investiu em imaginação e ativismo na busca das melhores maneiras de dispor e de organizar a vida social em meios urbanos onde se costumam fazer apostas redentoras.
O objetivo deste ensaio não é realizar mais uma retrospectiva dessa ampla produção intelectual acumulada. Importantes autores já o fizeram com acuidade e argúcia, oferecendo aos estudiosos do assunto um rico material de análise. Trata-se aqui de especular sobre as possibilidades e os limites das intervenções físicas em meios sociais de manifestação da pobreza, onde se verificam fortes barreiras à expansão de liberdades humanas tomadas aqui como irremediáveis para uma efetiva reforma urbana.
O que persiste, de fato, é um enorme desafio epistemológico, no campo da reflexão, e um enorme desafio político, no campo da ação transformadora da cidade, capaz de contribuir para superar tanto a tendência ao determinismo das formas quanto a tendência ao determinismo do processo social. Enquanto uns tendem a sustentar que o projeto e o conteúdo físico-espacial da cidade são decisivos para instaurar novas dinâmicas sociais, outros tendem a sustentar que é a ação humana realizando a sua própria história que dirá que forma urbana lhe servirá no porvir. O que já se sabe é que não há oposição direta e imediata entre forma urbana e processo social. Desde já, parece que as melhores pistas para o tratamento produtivo do assunto estão na compreensão daquilo que forma e processo oferecem aos sujeitos sociais em cada contexto, em cada lugar e em cada tempo.
O que se passa, de fato, nas cidades e nas políticas urbanas?
Planejadores e pensadores críticos olham com prudência projetos apresentados como saídas últimas para questões urbanas que exigem atenção e compromisso político em esferas de ação que não somente a do desenho e da estruturação física em si do espaço urbano. Luis Antônio Machado da Silva observa que “… na gênese da construção social da favela como representação coletiva, parece que o núcleo de seu significado estava na dimensão físico-espacial, muito mais do que nas características de seus moradores (estas estavam presentes, mas qualificavam a patologia de territórios e moradias, e não propriamente de atores sociais). Talvez por isso quando se passava do plano cognitivo para as propostas de ação, elas pudessem se articular como uma espécie de ‘solução final’ – a meta sempre era ‘acabar com as favelas'”.
O diálogo desse autor com os trabalhos de Lícia Valladares, diante da vitória das favelas contra a antiga política de remoção, o levou a indagar: “mas e os favelados”, haveriam eles também vencido?
Tudo indica que superamos o discurso e a astúcia de projetos que parecem se auto-legitimar. Ao fim e ao cabo, muitos desses projetos costumam mesmo tratar a pobreza ou a desigualdade social como um epifenômeno e não como um fenômeno em si. Essa atitude pode ter várias origens, desde o alheamento político tácito à exclusão social, passando pela boa vontade de quem tateia na busca de uma estratégia metodológica, até o confinamento das ações em campos profissionais ou “regiões” setoriais de trabalho onde se tente “fazer a sua parte”. O fato é que ainda persiste um enorme passivo social a saldar, além de estigmas e preconceitos fortemente enraizados dentro e fora dessas áreas de manifestação contundente da pobreza, diante dos padrões de vida social dominantes nas cidades.
Em bairros de algumas cidades brasileiras, moradores que dispõem de rede pública de água nas suas ruas, seguem se abastecendo em fontes alternativas para escapar da compra de um medidor de consumo e do pagamento da própria conta do consumo. A rede foi financiada com recursos públicos, a firma empreiteira cumpriu talvez com eficiência a encomenda da obra, a inauguração pode ter rendido alguns votos nas eleições, mas as condições de saneamento para aquelas famílias permanecem as mesmas. A política de isenção do pagamento da conta de água (tarifa zero) não parece, por outro lado, se afinar com uma política ambientalmente correta, devido ao estímulo ao desperdício que poderia representar. Num momento histórico em que a água é considerada um bem estratégico global, em progressiva escassez, não-cidadãos sequer conseguem se servir da rede pública que passa à sua porta. A maior rede de TV do país, há pouco tempo, mostrou também famílias que utilizavam a energia elétrica instalada nas suas casas somente para manter a geladeira funcionando (vital num clima tropical) e para assistir à televisão, já que a iluminação noturna da casa era feita com vela. Com o combustível doméstico, no auge da alta dos preços, já se passou o mesmo, trocando-se o bujão de gás pelo fogareiro a álcool ou, em casos extremos, a lenha. Pesquisas recentes sobre mobilidade urbana apontam também um aumento significativo do número de viagens realizadas a pé, mesmo em longas distâncias, como recurso de economia em transportes.
Já entraram para o folclore do assunto os “gatos” em instalações de infra-estrutura urbana, para escapar do pagamento pelo consumo de serviços tidos como essenciais para a vida moderna. Essa prática é um dos tormentos para a lucratividade das concessionárias dos serviços. É tão difundida que inclui até mesmo consumidores que, apesar de mais capitalizados (alguns inclusive instalados em favelas), praticam também a renúncia tarifária. À parte essa desfaçatez de quem pode, os “gatos”, na verdade, constituem saídas irreverentes ao absurdo do cotidiano da pobreza nas grandes cidades. Vale lembrar que é justamente nas regiões metropolitanas com maior incidência de pobreza onde é mais difícil recuperar custos da instalação e prestação de serviços.
Nas favelas, ao longo das décadas, contraditoriamente, parece ter havido uma inversão de valores, uma vez que há evidências de uma expansão relativa do consumo material nessas áreas, inclusive investidos na moradia, sem uma correspondência com a promoção do capital humano e de valores mais identificados com a cidadania. Como diria Milton Santos, forjamos consumidores sem formar cidadãos. A persistência do analfabetismo, por exemplo, costuma inviabilizar iniciativas que exijam um mínimo de aptidão letrada, como em alguns programas de capacitação.
Nos centros históricos é comum o noticiário da imprensa mostrar desabamentos e incêndios, causados pela má manutenção dos imóveis que, além de perdas humanas, acabam por destruir o patrimônio que se queria preservar. Basta comparar este fato com a situação de edifícios igualmente antigos e históricos ocupados por quem tem força econômica e se alinha com os padrões estéticos do projeto. A sofisticação da concepção arquitetônica, do design e das técnicas e tecnologias utilizadas em algumas construções, estabelecendo padrões de uso e desempenho dos edifícios que não correspondam ao repertório econômico e cultural dos seus ocupantes, é crítica para o êxito das políticas urbanas e habitacionais. Não se pode esperar que os pobres “cheguem lá”, para então estarem aptos a usufruir de projetos para os quais teriam um dia que se qualificar. Ou dizer que os processos sociais não têm sido generosos com os projetos, que acabam por ser subvertidos.
Como as manifestações da pobreza persistem e se aprofundam, temos trabalhado para aproximar o padrão de nossas intervenções da suposta capacidade de resposta dos beneficiários. Já fizemos vistas grossas às invasões de terras urbanas para abrigar as favelas, apesar de a sociedade brasileira reagir às invasões do Movimento dos Sem Terra no campo, pesquisamos soluções baratas e tecnologias alternativas ou apropriadas para a moradia, invocamos o direito à beleza da arquitetura feita para os pobres (mesmo sem poder precisar muito bem o conceito do belo), desenvolvemos mecanismos de subsídios e micro-crédito para incrementar a economia popular, aceitamos iniciativas assistencialistas de ação social, apoiamos o trabalho muitas vezes heróico de ONGs que se dispuseram a atuar onde o Estado não tinha compromisso nem as empresas viam mercado para atuar.
O acervo dessas lições e experiências está à disposição pública. As várias iniciativas de rastrear as melhores práticas em assuntos urbanos procuram difundir caminhos e soluções que possam ser replicadas em outros lugares. Todo esse esforço de responder às tensões sociais, no entanto, tem sido insuficiente para instaurar um ambiente de maior sociabilidade urbana contrário à exclusão, ao estranhamento e ao medo entre os cidadãos. Tem sido insuficiente também para incrementar a produtividade e o desempenho global das cidades e do país.
O que a liberdade pode ter a ver com a (re)forma urbana?
Uma das contribuições intelectuais mais sistematizadas e com capacidade de síntese que pode ajudar a superar esse impasse nos dias atuais, pode ser encontrada na obra de Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, em 19981. A tese fundamental desse professor indiano propõe avaliar grau de desenvolvimento através do grau de expansão de diversos tipos de manifestação das liberdades humanas2. Sua formulação situa-se na fronteira da economia com a filosofia, não se enquadrando, porém, na ortodoxia econômica. Tampouco poderia ser entendida como uma reação ou busca de alternativas de desenvolvimento fora dos princípios do mercado. Suas idéias estão fundamentadas em citações tanto de Adam Smith quanto de Karl Marx, mas, sobretudo num exaustivo manancial de dados empíricos, quantitativos e qualitativos, referidos a vários países e períodos históricos.
Além dos principais trabalhos originais de Sen, vale mencionar os estudos que vêm sendo desenvolvidos por Romi Khosla e outros3 no sentido de tomar este paradigma para a construção de indicadores e de um quadro metodológico de referência que possa instruir a avaliação da situação atual e a formulação de políticas públicas que interesse a todos, mas, sobretudo, àqueles que professam uma visão mais generosa e ética com relação às insustentáveis desigualdades sociais.
Alguns poderão dizer que não há novidades nas formulações de Sen. Não importa, pois o conhecimento avança por refutação ou acumulação de conquistas progressivas nos diversos campos do saber. A reorganização de idéias dispersas ou fora do lugar também pode constituir um poderoso instrumento de superação de debates acadêmicos e, melhor ainda, inspirar avanços políticos e na ação prática.
Tomando isto como ponto de partida, vale investir aqui num diálogo livre e exploratório entre as idéias do professor Sen e parte da produção crítica e da experiência prática desenvolvida no Brasil a respeito da implementação de projetos incidentes em áreas urbanas de grande concentração de pobreza. É importante observar que as idéias de Sen, quando contextualizadas, podem se aplicar a universos de trabalho de diversas escalas. Amartya Sen distingue cinco tipos ou conjuntos de liberdades, para ele decisivas para o êxito das políticas de desenvolvimento humano: as Liberdades Políticas, as Facilidades Econômicas, as Oportunidades Sociais, as Garantias de Transparência e a Seguridade Protetora.
Entre as Liberdades Políticas estariam canais de expressão e representação, que devem ser pensados para a escala do país e da cidade, mas adverte-se sobre a importância do foco na micro escala de projetos. Vale lembrar que, em muitos países, a emergência da democracia como construção geral de organização política, não foi capaz de reverter as condições de inserção dos mais pobres nos espaços decisórios para a realização concreta das suas vidas. Quem observar as experiências consideradas emblemáticas de intervenção em favelas no Brasil irá verificar que os maiores êxitos foram alcançados com a mobilização dos moradores na formulação e implementação dos projetos. A referência ao caso pioneiro e radical da urbanização da favela de Brás de Pina, no Rio de Janeiro, ocorrida no final da década de 1960, em plena ditadura, é inevitável, uma vez que a intervenção foi regulada pelas condições objetivas de recursos e de ação observadas entre os moradores e não por hipóteses exclusivas e homogeneizadoras de planejadores que, neste caso, planejavam enquanto o próprio processo avançava. A liberdade política, no caso, foi decisiva inclusive para o projeto dos espaços públicos e das casas evolutivas montadas com materiais reaproveitados dos barracos da favela.
As Facilidades Econômicas incluiriam o incremento da dinâmica dos negócios e das oportunidades de trabalho e de mercado, pensando-se na promoção de uma economia que interesse (inclusive) aos pobres. Do ponto de vista macroeconômico, isto pode ser invocado para, a exemplo de outros países, apontar o caminho da reestruturação produtiva do país no sentido da criação de um forte mercado interno popular. Os programas de complementação de renda, as práticas de micro-crédito, bancos populares, cooperativas e outros mecanismos de estímulo à iniciativa produtiva dos mais pobres também podem ser bem-vindos. A expansão dessas facilidades tenderá a melhorar o patamar de inserção dos mais pobres no mercado, inclusive de moradia e infra-estrutura urbana. Assim, a melhoria material do habitat, tenderá, com o tempo, a se viabilizar não pelo financiamento da oferta da habitação e dos serviços públicos, sem retorno garantido, mas pelo lastro do mercado para efetivamente consumi-los. Os projetos habitacionais populares, por sua vez, deverão ser flexíveis e adaptáveis à instalação e expansão dessa economia emergente da pobreza.
As Oportunidades Sociais podem ser identificadas com demandas ou prioridades diversas conforme o lugar e o contexto. No entanto, em que pese as lições da antropologia, é difícil não incluir num pacote mínimo itens quase que universais como abrigo, alimentação, saúde, educação e mobilidade. Vale lembrar a importância de pautas específicas de pessoas e grupos sociais. Amartya Sen observa que dentro das famílias alguns membros, por razões culturais, de gênero, de saúde ou mesmo aleatórias, podem ter necessidades distintas dos demais. É importante difundir um conceito de resultados coletivos onde a melhoria do padrão de vida dos mais pobres seja vista como um ganho para o conjunto da cidade e do país. É importante também superar estigmas e a inserção subordinada dos pobres na vida social, garantindo-lhes oportunidades de mobilidade em cadeias produtivas que costumam lhes reservar as posições menos qualificadas e promissoras. Pelo menos em algumas favelas já se reagiu à oferta de cursos de garis para os homens e de costureiras para as mulheres. No caso das mulheres, reivindicam serem as produtoras da moda ou as próprias modelos. O enraizamento cultural dos projetos também pode promover vocações menos vulneráveis à concorrência predatória. Boas experiências em favelas e centros históricos têm se apoiado na diversificação e no fortalecimento de funções sociais e culturais identificadas com aptidões genuinamente locais. O projeto dos espaços habitacionais deve ajudar a abrigar e expandir essas funções.
As Garantias de Transparência visam estabelecer confiança e inibir a corrupção e a irresponsabilidade financeira no trato com o interesse público. Por esta via, num plano mais geral, vêm ganhando força iniciativas de controle externo das ações de Governo, que agora começam a apontar para o Judiciário. Se fortalecem também, e tendem a ampliar sua capilaridade, o sistema do Ministério Público e, mais recentemente, do Tribunal de Contas da União, além de inúmeros órgãos de defesa do consumidor. Para os pobres, entretanto, mais vulneráveis no acesso a direitos, resta armar canais de mediação ou contar com o apoio de organizações não governamentais comprometidas com o seu destino e a sua sorte. Vale destacar ainda como no Brasil são inúmeras as experiências de orçamento participativo adotadas pelas Prefeituras, favorecendo mais transparência e equidade na distribuição dos recursos públicos nas cidades.
Finalmente, a Seguridade Protetora envolve um conjunto amplo de direitos e garantias que permitam o exercício efetivo e a expansão dos outros tipos de liberdades em cada contexto. A ausência ou insuficiência dessa seguridade tende a agravar o quadro de pobreza. Incluem-se aqui serviços como segurança pública, defesa civil, seguridade social e atendimento jurídico à cidadania. Nesse assunto, mesmo para o projeto físico de intervenções em favelas, há desafios a enfrentar, devido à ocorrência de desastres naturais, endemias e violência nesses locais. No caso da violência nas favelas, teríamos que desmontar a geografia e a arquitetura do tráfico nessas cidadelas, tendo em vista que a forma de organização interna de alguns desses assentamentos foi se adaptando ao processo de militarização dos negócios da droga no local. Mais do que isso, como evitar que escolas e creches públicas sejam impedidas de funcionar e que casas, às vezes contempladas com investimentos por programas habitacionais oficiais, sejam tomadas dos seus moradores e moradoras e incorporadas ao patrimônio funcional do tráfico? A polêmica prioridade (ou não) para titulação da propriedade em favelas serviria, quem sabe, como recurso de proteção em algum nível, instruindo uma justiça que queira de fato se impor como força de arbitragem no lugar. Uma situação semelhante pode ocorrer também nos casos de mulheres abandonadas por maridos que jamais reconheceram a paternidade dos filhos mas que voltam para recuperar o patrimônio na favela não inscrito na ordem jurídica legal. Pelo menos nestes casos, e numa escala micro local, baseada nos aportes de Sen, indaga-se se a propriedade não poderia ser propulsora da expansão econômica e da prosperidade.
Para Amartya Sen, a garantia dessas liberdades deve ser pensada para cada indivíduo e em função de diferentes atores sociais, procurando-se distinguir gêneros masculino e feminino, faixas etárias, habilidades físicas e outras condições sociais significativas em cada contexto. A pobreza, para Sen, deve ser vista como privação de capacidades, em vez de meramente baixo nível de renda, que é o critério tradicional de identificação de pobreza. A expansão das liberdades humanas são, para ele, fim e meio do desenvolvimento. Assim não é fácil vingar a velha tese liberal que atribuía à indolência a causa da pobreza e da imobilidade social. Educação e saúde devem ser vistas como fatores de produção e não como “benefícios”. Antecipar esses investimentos em relação à velocidade do crescimento permitiria, portanto, ampliar a sustentabilidade do processo. Esse processo conduzido pelo custeio público, para Sen, não espera até que ocorram elevações monumentais nos níveis de renda per capita real, mas funciona dando-se prioridade à provisão de serviços sociais. Por aí se oferece uma nova via, em oposição à velha tese de “crescer o bolo para depois dividir” e em oposição a certas promessas estratégicas que costumam revigorar os saudáveis enquanto estrebucham os enfermos.
Vale mencionar, finalmente, que esta abordagem do desenvolvimento já aparece considerada em relatórios de desenvolvimento humano realizados pela Organização das Nações Unidas (ONU), particularmente no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). As avaliações práticas, em cada país ou em cada contexto, vêm se apoiando tanto em indicadores já utilizados por agências internacionais, como o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), quanto por novos indicadores que estão sendo testados para esse fim.
Considerações finais
Qualquer morador pobre de cidade espera melhorias nas suas condições de moradia, uma vez que isto pode contribuir para lhe dignificar como cidadão e facilitar os laços de sociabilidade que precisa manter com o resto da cidade para sua sobrevivência num meio urbano competitivo e excludente. Basta conversar com qualquer morador de favela contemplada com significativas melhorias urbanísticas para verificar o quanto pode ter aumentado sua posição relativa e, por conseqüência, sua expectativa para uma convivência mais integrada com o resto da cidade. É comum, por exemplo, a urbanização de ruas de favelas promover a codificação oficial dos endereços dos moradores que, para muitos, constitui uma distinção de identidade e de pertencimento perante a cidade. Mas já se ouviu também desses moradores que não é só obra que muda a favela. Eles sabem que a cidadania diz respeito não somente ao seu endereço fixo, mas também ao seu corpo móvel.
A produção da pobreza, no entanto, como se sabe, ocorre em instâncias e escalas diversas. A ordem econômica mundial tende a impor condições subordinadas perversas à inserção de países como o Brasil, vide as disputas atuais na Organização Mundial do Comércio (OMC). Os Estados Nacionais, por sua vez, figuram como mediadores das relações dos países com a ordem internacional, ora se integrando, ora se contrapondo a ela.
O Brasil foi formado a partir de uma estrutura social e patrimonial das mais perversas. Desde as Capitanias Hereditárias criamos uma estrutura fundiária amplamente excludente. Fomos o último país do mundo a acabar com a escravidão oficial. Ainda assim, além de não termos aproveitado aquela ocasião para uma transição negociada e mais generosa com os descendentes dos escravos, assistimos hoje indignados à persistência de formas disfarçadas de escravidão no interior do país. Seremos o último dos grandes países a realizar uma reforma agrária, que em terras de países como os Estados Unidos, o Japão, os países escandinavos e outros, pôde contribuir para criar bases sustentáveis para o desenvolvimento. Há ainda grandes assimetrias na organização territorial e urbana entre regiões, municípios, cidades, bairros, favelas, grupos sociais e pessoas no Brasil. Os índices de Gini, que medem desigualdades de renda, por exemplo, apontam como os casos mais críticos justamente as antigas regiões de monocultura, latifúndio e escravismo.
Na reversão dessa herança histórica, as cidades pouco mudarão se também nos grandes redutos de pobreza do interior do país a fome não for zero. Vale lembrar que apenas cerca 2 milhões de pessoas no Brasil (pouco mais de 1% da população) movimenta o que é considerado o segundo maior mercado de produtos de luxo das Américas. Nisto só estamos atrás dos Estados Unidos.
No cotidiano das áreas pobres do país, no entanto, se manifesta a contradição, a insurreição e a irreverência dos excluídos. Negar sua força e seu pacto com o destino seria somente adiar aquilo que talvez possamos fazer hoje. Eles próprios apontam o caminho nas suas formas de solidariedade, de engenhosidade econômica, de inventividade construtiva, de expressão de cultura e de articulação com os que podem lhes servir como parceiros, mesmo que de ocasião.
Além do desafio global e nacional, o desafio do planejador urbano situa-se também em campos particulares de preocupação e de compromisso. Ao atender à proposição irrecusável de Amartya Sen no sentido da expansão daqueles tipos de liberdades humanas a que se refere, sua tarefa implica também uma atitude de trabalho que considere o projeto urbanístico e arquitetônico espécie de fenda capaz de induzir dinâmicas no processo social que contribuam também para dar curso à expansão daquelas liberdades e não para bloqueá-las.
Michel Foucault, entrevistado por Paul Rabinow, em 1982, disse não acreditar que a simples natureza intrínseca de uma coisa (que pode sair de um projeto urbano de intervenção física) possa lhe atribuir um papel liberalizante ou opressivo. Não é demais, porém, lembrar que a estratégia de catequese dos indígenas brasileiros pelos jesuítas só começou a dar resultados com a construção dos aldeamentos, retirando-se os índios de suas aldeias e os submetendo a um novo espaço programado com o código invasor.
A desativação do complexo penitenciário do Carandirú, em São Paulo, e a reciclagem das suas instalações para a implantação de um Parque da Juventude, voltado para a cultura, os esportes, a recreação e a promoção da cidadania, procura mudar o código de leitura do lugar e purificá-lo do episódio nefasto (da chacina de presos por policiais) que a ele esteve recentemente associado. Isto não quer dizer, no entanto, que a criação do Parque vá resolver o problema do abuso policial – contra uma ampla maioria do gênero masculino envolvida com a violência – podendo agora a sociedade descansar e tomar aqueles episódios como encerrados. Afinal, na perspectiva a que este ensaio procura aderir, a Justiça não pode ser a “codificação da vingança”, como advertiu Oswald de Andrade no seu famoso Manifesto Antropófago. A Justiça, para ele, haveria de ser a regulação das liberdades e o Direito “a garantia do exercício das possibilidades”.
Há algo de instigante nas possibilidades de apropriação dos objetos arquitetônicos e urbanísticos que pode limitar ou expandir nossas vidas. O domínio das formas urbanas não constitui um seara estéril nem romântica. Haverá sempre um nível de autonomia do projeto que nos colocará diante de escolhas. Nossa tarefa, portanto, será ajudar a construir contextos políticos e sociais liberalizantes e aí plantar formas urbanísticas e arquitetônicas capazes de também oferecerem mediações liberalizantes a projetos comprometidos com justiça social. Ou, como propôs uma vez João Cabral de Melo Neto, projetar “portas por onde, jamais portas contra”.
O contexto atual do país pode anunciar um futuro mais generoso para a cidadania, a (re)organização do território e a (re)forma da cidade. Caberá a nós colaborar para abrir flancos por onde as liberdades humanas possam se expandir, dar sustentabilidade ao desenvolvimento e afirmar um projeto de cidade e de sociabilidade que interesse a todos os cidadãos e cidadãs.
No tema habitacional, conjuntos residenciais como o de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, construídos em grande parte para abrigar populações de favelas erradicadas de áreas nobres da cidade, mostraram-se, com o tempo, lugares tão ou mais opressivos do que aqueles aos quais quiseram contrapor-se. Aliás, basta voltar hoje a esse conjunto habitacional, décadas depois de implantado (e depois de quatro indicações para o Oscar de um filme que lhe tomou como argumento)4 , para constatar como inúmeras transformações na sua forma original refletem barreiras que haviam sido impostas às liberdades e ao processo de vida social e econômica dos seus moradores. Há casos surpreendentes de edifícios de quatro andares onde apartamentos mínimos foram ampliados na horizontal através de acordos entre os moradores de uma mesma prumada, com o objetivo de adaptar pequenas atividades comerciais que incrementassem a renda familiar. Estas são lições que poderiam ter sido assimiladas na própria lógica interna de formação das favelas, onde a evolução do espaço construído refletiu os padrões econômicos e culturais a partir dos quais os moradores, mesmo em condições adversas, tomaram as suas decisões com liberdade e autonomia. Carlos Nelson Ferreira dos Santos, o pensador brasileiro que mais se dedicou ao assunto, chegou a pregar o exercício de uma pára-arquitetura e de uma metalinguagem para o ofício dos arquitetos, urbanistas e planejadores urbanos, especialmente em áreas pobres dos países periféricos. Apontava assim para o que estava por trás (ou por dentro) dos invólucros ou das intervenções físicas que se propõem a melhorar a vida dos pobres ou fazer justiça nas suas condições de inserção na cidade.
1 Ver, em especial, SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo, Companhia das Letras, 2000. Ver também SEN, Amartya. Sobre a ética e a economia. São Paulo, Companhia das Letras, 2000.
2 No Inglês, faz-se a distinção entre “freedoms” e “liberties”.
3 KHOSLA, Romi and others. Removing unfreedoms: citizens as agents of change: sharing new policy frameworks for urban development. London, 2002, 37p. (Backgound Support Project Document outlining the approach for discussion with UN-Habitat Brussels Liaison Office).
4 Dois jovens atores do filme, recrutados na própria Cidade de Deus, foram presos, logo após a festa do Oscar, acusados de roubo.
Publicado na Revista de Administração Municipal, Rio de Janeiro: IBAM, Ano 48, nº 244, nov./dez. 2003, p. 5-13.
Publicado na revista Medio Ambiente y Urbanización. Buenos Aires, Argentina: IIED-AL, año 21, nº 61, febrero de 2005, p. 85-95.