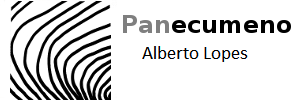A série das Convenções-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, ou Conferências das Partes (COP, na sigla do Inglês), chega em novembro de 2025 a Belém, no Brasil, no seu número 30. O histórico dessa trajetória já é bem conhecido pelos especialistas e mesmo por uma boa parte do público em geral. Os resultados são considerados lentos e limitados frente à emergência climática que se impôs. Alguns chegam mesmo a falar em fracasso. A questão, então, é indagar que cenários e desafios nos esperam no pós-COP30?
O que vem ocorrendo é que atores mais implicados na governança climática, como em geral na governança dos grandes temas globais, ou estão ausentes desses eventos ou não assumem os compromissos e ações que deles se espera como resposta à emergência climática. Atores estratégicos parecem protegidos e imunes a cobranças, mesmo diante de cenários de catástrofes. Alguns ficam na retórica e na discussão de termos e expressões que não lhes comprometam nas declarações oficiais emitidas ao final desses eventos. Muitos que são eleitos se legitimam com o voto aberto de todos, mas governam para o restrito grupo de seus pares e aliados. Os mais abonados, constroem seus bunkers como cápsulas de sobrevivência. E quando contabilizamos as emissões de gases de efeito estufa geradas em todas as guerras e conflitos bélicos que ocorrem hoje no mundo e os custos correspondentes dessas operações nos orçamentos dos países envolvidos ou afetados, fica claro que a mudança climática não chega a ser uma questão para eles.
“Atores estratégicos parecem protegidos e imunes a cobranças, mesmo diante de cenários de catástrofes.”
Um outro aspecto importante tem sido destacado pelo professor José Eli da Veiga, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Lembra ele que a COP30 reunirá cerca de 200 países. Mas, na verdade, apenas uns 30 têm maior influência sobre a (des)carbonização do planeta. Uma ação coordenada com esses 30 países poderia abordar, com foco e efetividade, pouco mais de uma centena de empresas, incluindo indústrias e bancos, responsáveis, em vários ramos de atividades, pela maior parte das emissões de gases de efeito estufa. Seria como regular os faróis da COP30, apontando-os para o eixo correto do caminho. Porém, todos os demais países contribuintes para as emissões e expostos aos efeitos da mudança do clima também precisam agir.
Ou seja, os objetivos da COP30 se concentrariam no capítulo de uma COP de 30 [países], sugerindo mais facilidade de organização, menor custo global de realização e, vale lembrar, menores emissões na sua produção. Isso não quer dizer que o governo brasileiro não deva se empenhar em colher o melhor resultado possível desse evento que sedia e aplica-lo bem no próprio país. A expectativa no pós-COP30 sinalizaria para a corajosa construção de um arranjo da governança climática que localizasse melhor onde está concentrado o problema e as chances, caminhos e investimentos para soluções mais rápidas.
Considerando os indicadores e cenários críticos apontados pela série de relatórios que vêm sendo divulgados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC), como avaliar hoje a prioridade para mitigar emissões ou adaptar os países?
No século passado, quando o assunto emergiu na agenda global, mitigar era a prioridade máxima. E continua sendo. Ocorre que os efeitos de uma esperada redução das emissões de gases de efeito estufa se manifestam de forma demorada. Ocorre ainda que os impactos das emissões não têm destino geográfico localizado precisamente em países ou cidades, muito menos naqueles países mais emissores. Afetam o planeta indiscriminadamente, de modo difuso. Mas, há cenários construídos de média escala geográfica.
Como não logramos reduzir as emissões na escala esperada para reduzir o aquecimento global e no menor prazo possível, estamos hoje também diante de um desafio de emergência para adaptação. Dito de outro modo, os efeitos de uma descarbonização do planeta já muito retardatária colocou na agenda a urgência em acelerar medidas também de adaptação. E, vale lembrar, quem saiu na frente para se adaptar terá grandes vantagens comparativas em relação aos retardatários. Enquanto muitos contabilizam suas perdas com os crescentes desastres, poucos ganham tração acumulando forças por terem se adaptado a tempo. Os Países Baixos têm muito a nos ensinar sobre isso. Afinal, o próprio nome do país já denota, por exemplo, a sua exposição e vulnerabilidade ao aumento do nível do mar. Por isso, há várias décadas, já avançam com uma série de políticas e medidas estruturais e práticas de resposta ao problema com custos ainda suportáveis. Não querem repetir os desastres e prejuízos de inundações de tempos passados.
“…os efeitos de uma descarbonização do planeta já muito retardatária colocou na agenda a urgência em acelerar medidas também de adaptação.”
Finalmente, mitigar versus adaptar não chega a ser um dilema, pois algumas medidas e alguns investimentos em mitigação acabam por gerar também adaptação, e vice versa.
Há uma alegação generalizada sobre falta de recursos para serem aplicados no tema. Afinal, qual é o verdadeiro peso do financiamento para acelerar as ações de resposta à mudança do clima?
Antes de tudo, mesmo diante de um quadro aparente de escassez de recursos, os maiores investimentos destinados globalmente a respostas à mudança do clima têm sido dirigidos a medidas de mitigação. É fácil entender porque. Quando reduzimos as emissões de gases de efeito estufa mitigamos para todo o planeta. O fenômeno é difuso e não está bem localizado geograficamente. Já os investimentos em adaptação tendem a beneficiar preferencialmente onde e quem se adapta. Neste caso, os maiores beneficiários são locais. As exceções ficam por conta, por exemplo, de uma país estrangeiro grande exportador que precisa continuar a descarregar seus produtos em portos de destino expostos ao aumento do nível do mar. Aí vale o investimento externo em adaptação. E, dado o atraso da mobilização mundial sobre o assunto, ações de adaptação podem gerar resultados, mesmo que precários e provisórios, em prazos mais curtos do que ações de mitigação.
Quanto à busca por financiamento global estruturado, um compromisso de US$ 100 bilhões anuais que seriam destinados globalmente para projetos de mitigação e adaptação está longe de ser cumprido. E a prioridade seria compensar os países do chamado Sul Global, em geral, menos emissores e mais vulneráveis ao problema. Aquele compromisso de financiamento, aliás, acaba de ser renovado na reunião dos BRICS, realizada na cidade do Rio de Janeiro, no início de julho de 2025, para um montante agora de US$ 300 bilhões anuais. A expectativa de que esses recursos, de fato, estejam disponíveis tem animado inclusive o surgimento de uma grande rede de atores dispostos a intermediá-los e orientá-los para aplicação na ponta. Essa busca por financiamento irá continuar. Mas, na verdade, muitos países, unilateralmente, vêm criando as suas próprias linhas de financiamento. No caso do Brasil, o BNDES, por exemplo, opera recursos tanto de fundos criados com doações internacionais quanto recursos do próprio país. Além disso, adota-se políticas de investimentos em vários setores ou ramos de atividades que induzem os tomadores de recursos (reembolsáveis ou não reembolsáveis) a realizarem projetos que atendam à agenda climática.
“Ter recursos somente não basta. É preciso garantir qualidade e eficácia dos gastos e investimentos.”
Ter recursos somente não basta. É preciso garantir qualidade e eficácia dos gastos e investimentos. Para isso, é preciso adotar instrumentos adequados de gestão e monitorar metas que atendam a indicadores de desempenho.
Para quem acompanha o assunto, o animador é que não faltam bons exemplos e boas práticas pelo mundo. O problema é que as boas práticas, muitas premiadas, não conseguem escalar para pautar políticas públicas comprometidas com a questão climática e a sustentabilidade. E a regra tem sido uma inquietante inércia de investimentos na prevenção, que custam menos, e gastos de resposta a emergências e desastres, que sempre custam mais.
“Para quem acompanha o assunto, o animador é que não faltam bons exemplos e boas práticas pelo mundo.”
No caso do Brasil, em particular, para além dos avanços possíveis que possam ser alcançados nos compromissos firmados na COP30 e no acesso a financiamentos, que respostas os governos federal, estaduais e municipais, além das empresas e da população em geral, podem dar à mudança do clima?
O estado anunciado de emergência climática global deve mesmo mobilizar a todos. E, conforme temos insistido, curto, médio e longo prazos não se referem a tempos sequenciais, mas entrelaçados, no qual um contém dimensões e componentes do outro. Para alcançar resultados cumulativos no longo prazo é preciso ir semeando condições de sucesso no curto e médio prazo. Para que as políticas e ações, sobretudo na esfera federal, tenham eficácia precisamos ainda colocar a federação brasileira para funcionar no modo cooperação. Do Congresso Nacional, Senado e Câmara, se espera o cumprimento do artigo 225 da Constituição Brasileira em sintonia com a ciência. No momento, a expectativa é alinhar a pauta da COP30 com o resultado da tramitação do Projeto de Lei n° 2.159/2021, conhecido como PL da devastação ambiental e climática.
Os governos estaduais devem, sobretudo, agir como agências de desenvolvimento. Afinal, os fenômenos da mudança climática se manifestam, de forma particular, em áreas geográficas extensas, como bacias hidrográficas, serras, cadeias de montanhas, costas marítimas ou biomas, por exemplo. A partir dessa escala, os governos estaduais devem promover e apoiar o trabalho dos municípios, gerando informação qualificada e unificando iniciativas de respostas articuladas e complementares no espaço e no tempo.
Os governos locais devem liderar o processo de transição nos municípios, cumprindo suas competências constitucionais e dando o exemplo na proximidade maior que têm com os cidadãos e os fatos. Antes de tudo, é preciso recorrer à base nacional de dados sobre a mudança do clima, disponível nas instituições de ponta nacionais ou regionais, para construir cenários e formular propostas. Além da adoção de políticas, os instrumentos locais são muitos. O marco legal do município deve ser revisto e atualizado com a agenda climática, visando estabelecer princípios e parâmetros para mitigação e adaptação. Isso inclui, pelo menos, planos diretores, leis de parcelamento do solo e normas para obras e edificações. Programas e projetos setoriais ou multisetoriais precisam ser formulados e implementados tendo como pressuposto a transversalidade da questão climática em várias funções de governo: produção de alimentos, incluindo a agricultura urbana; saúde pública; serviços públicos; organização territorial e urbana e assim por diante. A formação de servidores deve ser aperfeiçoada. E a organização administrativa das prefeituras deve ser atualizada com foco na questão climática. A introdução do assunto para os alunos da rede de ensino e a realização de campanhas com a população e as mídias locais são indispensáveis.
“…antes de pleitearmos financiamentos, mesmo os escassos recursos orçamentários que os governos já alocam em diferentes rubricas anuais e plurianuais… precisam atender a novos padrões.”
E, antes de pleitearmos financiamentos, mesmo os escassos recursos orçamentários que os governos já alocam em diferentes rubricas anuais e plurianuais, justamente por serem escassos, precisam atender a novos padrões. No caso das prefeituras e câmaras municipais, devem adaptar as instalações de suas sedes e dos diversos equipamentos e serviços públicos a padrões já amplamente conhecidos e recomendados de sustentabilidade e resiliência. Não é possível mais construir ruas, avenidas e mesmo ciclovias em trechos de orlas marítimas com os mesmos padrões que, já se sabe, serão afetados pelo aumento do nível do mar. Unidades de ensino e de saúde devem, por exemplo, utilizar energias renováveis. Afinal, não é possível mais adiar a transição energética. No caso da construção de obras novas, essas diretrizes são imperativas. Isso teria um caráter pedagógico para os usuários e de vitrine de soluções para a cidade. Nada como um bom exemplo de quem governa para induzir o engajamento da cidade e dos seus cidadãos.
Quanto ao setor privado, deve ser enquadrado com base na sua escala e no seu ramo de atividades. Quanto menor a escala da produção e menos dependente de regulação nacional, mais atenção regulatória e estímulos locais deve receber do município. Vale a pena também estimular a cooperação e o intercâmbio com quem já tem experiência consolidada em soluções apropriadas ao local. Os arranjos de governança devem contemplar colegiados do setor público com o setor privado e representações da sociedade civil.
O limite do negacionismo e da falta de ação sobre a evidência da mudança climática é justamente a evidência do que as boas práticas já consagradas vêm garantindo para o desenvolvimento sustentável em todo o mundo. Para o pós-COP30, como sugere o famoso ditado, cabe então manter “um olho no peixe e o outro no gato”; ou um olho na mensagem que sairá da Belém global da COP e outro na realidade da sua própria cidade. Se tivermos êxito com os resultados do evento, ganhamos todos. Porém, diante de qualquer sinal de naufrágio, façamos bem o nosso dever de casa para garantirmos um lugar resiliente na Arca de Noé.
Entrevista publicada na Revista de Administração Municipal. Rio de Janeiro: IBAM, n° 323, setembro de 2025, páginas 6 a 9. ISSN 0034-7604