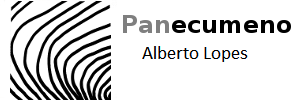Não fazia muito tempo (até 1993), a atividade de pesquisa urbana no Brasil constituía um campo privilegiado de trabalho nos meios acadêmicos e profissionais voltados para o tema da urbanização e da cidade. O esforço espetacular empreendido nesse trabalho envolvia, até recentemente, um considerável número de profissionais. Muitos recursos foram mobilizados através de diversos patrocinadores, sobretudo governamentais, apoiando um então crescente número de instituições e centros de pesquisa espalhados pelo país.

Foto: Evandro Teixeira
Publicado no Relatório de Atividades do IBAM de 1993
Antecedentes
A contundência e a velocidade do crescimento urbano no Brasil, sobretudo na década de 60, levaram os problemas além da capacidade de resposta dos governos, em especial os locais. O IBAM, que vinha construindo, desde a sua criação, em 1952, uma sólida trajetória de apoio e assessoramento aos Municípios brasileiros, criou, em 1968, o então Centro de Pesquisas Urbanas. A criação do CPU era sintomática. Uma instituição como o IBAM, voltada para as administrações municipais, precisava reforçar o seu trabalho interno e o seu protagonismo externo com o fortalecimento da sua capacidade de reflexão e de assessoria aos governos locais. Administrar Municípios, afinal, era, cada vez mais, administrar áreas urbanas.
A produção de conhecimento sobre as formações urbanas brasileiras teve o seu apogeu na década de 1970, contabilizando um respeitável acervo de resultados, se não suficientemente difundidos e aplicados, pelo menos catalogados. Um inventário realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do IBAM1 patrocinado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 19792, apontou a existência de um bom número de importantes instituições, entre programas de pós-graduação de diferentes universidades e as chamadas instituições técnicas, que, como o IBAM, se voltaram com destaque para a execução de estudos e pesquisas sobre a questão urbana no país. Em 1983 o CNPq iniciou uma experiência, logo interrompida, de edição periódica de cadastros setoriais de pesquisa, chegando a publicar um volume dedicado às áreas de habitação, saneamento e desenvolvimento urbano, onde figuraram 705 projetos3. O esforço mais recente de cadastramento de estudos e pesquisas no Brasil vem sendo realizado pelo UABANDATA, um banco de dados que inclui um catálogo bibliográfico informatizado de teses defendidas em diversas disciplinas interessadas em temas relacionados ao urbano4.
O acervo de pesquisas já realizadas cobre uma grande diversidade de ternas, incluindo desde aspectos gerais da urbanização brasileira, políticas governamentais de interesse do desenvolvimento urbano teorias, metodologias e técnicas de planejamento urbano, até estudos de cunho mais prático, voltados para a intervenção direta sobre a construção da cidade. Nesse último grupo de estudos foram realizados, por exemplo, importantes trabalhos sobre padrões e tecnologias para habitação, equipamentos, infraestrutura, serviços urbanos e meio ambiente.
Essa preciosa produção da investigação urbana no Brasil esteve direta ou indiretamente identificada com as áreas de ação dos governos locais. Uma vez que a temática de pesquisa aqui examinada é a urbanização e a cidade, e a taxa de urbanização no Brasil se acelerou fortemente nas últimas décadas, chegando hoje a cerca de 75%, é compreensível que, em face das competências constitucionais dos municípios brasileiros, os governos locais pudessem se beneficiar enormemente do conhecimento produzido por esse esforço de investigação.
O aproveitamento prático desse conhecimento pelos governos locais, entretanto, pode ser avaliado com êxitos e vazios. As pesquisas de caráter geral sobre a urbanização brasileira, os impactos das políticas públicas sobre a cidade e temas do gênero puderam contribuir para melhorar a compreensão dos fenómenos urbanos e para subsidiar a reorientação das próprias políticas governamentais nesse campo. O acervo crítico construído e as alternativas apresentadas, porém, estiveram além das ações de mudança efetivamente implementadas pelos governos locais. Esse fato é justificável. Em face do centralismo que prevaleceu de meados da década de 1960 até meados da década de 80, os prefeitos brasileiros tiveram, na verdade, que enfrentar os impactos contundentes das politicas oriundas da esfera federal de governo nos seus municípios, com uma limitada capacidade econômica e financeira de ação.
Os principais agentes financiadores e fomentadores da pesquisa urbana no país vinculavam-se à estrutura do Governo Federal. Destacaram-se nesse papel o Banco Nacional da Habitação (BNH), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU), sucessor da Comissão Nacional de Política Urbana (CNPU), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), a Secretaria de Articulação com os Estados e Municípios (SAREM), da Presidência da República, além de entidades voltadas para o terna dos transportes, como a Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU) e a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT).
A participação dos governos estaduais e municipais no patrocínio foi bastante limitada, atendendo a algumas necessidades regionais e locais de investigação. Finalmente, registraram-se alguns estudos e pesquisas patrocinados por empresas e entidades privadas, sejam interessadas em aperfeiçoar seus insumos produtivos, sejam interessadas em melhorar a sua eficácia de ação sobre os meios urbanos onde aluavam, sem necessariamente estarem preocupadas com a produtividade social global da cidade.
O papel destacado e quase exclusivo das agências governamentais federais no fomento à pesquisa naquele período fez de Brasília uma espécie de Meca inevitável das entidades executoras. Mesmo aquelas instituições que se voltaram com ênfase para a ótica de ação dos governos locais, como o IBAM, trabalharam com frequência sob o patrocínio federal, dada a raridade de alternativas de recursos.
De qualquer modo, o saldo foi positivo. Houve dificuldades de difusão dos resultados das pesquisas e idiossincrasias do sistema governamental que pouco se inspirou no conhecimento gerado pelas próprias pesquisas que patrocinou. O extinto BNH, por exemplo, patrocinou vários estudos e pesquisas sobre construção de habitações com madeira que apresentaram excelentes resultados, apesar de não financiar projetos que empregassem esse material. Construções de madeira eram consideradas precárias, não sendo aceitas como hipoteca. Houve ainda um certo distanciamento de algumas linhas de pesquisa dos problemas emergenciais dos prefeitos brasileiros. Constituiu-se, entretanto, no país um considerável lastro de reflexão e de capacidade de ação no campo da pesquisa urbana. Além disso, hoje pode-se observar os bons resultados colhidos pelas administrações municipais em algumas áreas setoriais da atividade de pesquisa de anos atrás. Exemplos disso são os excelentes programas habitacionais que algumas prefeituras vêm implementando em todo o país.
Apesar de não se negar a importância da reflexão teórica, é frequente apontar como um vazio de resultado a contribuição limitada desses estudos e pesquisas para a resolução objetiva da pauta de problemas e para o aproveitamento de oportunidades de desenvolvimento verificadas no cotidiano das cidades. O caráter por natureza difuso e genérico das políticas oriundas das agências federais pode ser, em parte, responsável também por uma certa falta de foco nas especificidades locais.
O Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do IBAM, que completou, em 1993, 25 anos de atividades, foi um dos que se preocupou em gerar insumos para o planejamento local. A vocação municipalista do Instituto para assessorar os governos locais fez com que, sem perder a perspectiva de reflexão sobre os aspectos gerais da urbanização brasileira, dirigisse os seus esforços de investigação no sentido da superação de carências verificadas no dia-a-dia das prefeituras e câmaras municipais. Além disso pode, através dos resultados contundentes de algumas das suas investigações, apontar os caminhos para uma reformulação consequente de algumas políticas de desenvolvimento urbano por parte do Governo Federal. Complementando a atividade de capacitação de recursos humanos da Escola Nacional de Serviços Urbanos (ENSUR) e o trabalho dos demais centros do IBAM, o Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas foi responsável pela elaboração e difusão de um sem-número de estudos de aplicabilidade reconhecida pelos governos locais.
Contexto Atual
Houve uma profunda transformação no contexto e no panorama dos estudos e pesquisas urbanas no Brasil nesses últimos anos. Essa transformação teve início em meados da década de 1980, com o chamado desmonte dos organismos federais. Foram extintos o BNH, o CNDU, a EBTU, a SAREM e outras entidades oficiais patrocinadoras que garantiam os recursos e serviam de canais com as políticas públicas. Sobraram apenas o CNPq, que concentrou o seu apoio ·na pesquisa acadêmica das universidades, e a FINEP, que se voltou mais para a pesquisa tecnológica de interesse à produção industrial. As ciências sociais, que sustentaram grande parte da atividade de pesquisa urbana até então, perderam muito do apoio governamental que tinham. Não por acaso, dado o viés igualitário daqueles pesquisadores, o enfrentamento das demandas sociais nas cidades teve um de seus aliados relativamente enfraquecido.
A reformulação, ainda incipiente, da estrutura de fomento à pesquisa urbana acompanha lentamente a reestruturação político-administrativa que vem se operando no país no sentido da descentralização. Vem se tentando fortalecer na Federação os sistemas estaduais de Ciência & Tecnologia que, depois da experiência bem-sucedida da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), foram enormemente estimulados. As novas Constituições Estaduais, elaboradas a partir de 1988, em geral, destinaram percentuais nada desprezíveis de recursos orçamentários para aplicação em Ciência & Tecnologia de interesse regional. Muitos dos recursos previstos constitucionalmente ainda não estão efetivamente disponíveis para aplicação no amparo à pesquisa nos estados, além do que muitas dessas entidades tendem a se concentrar no fomento à pesquisa tecnológica de interesse industrial. Os resultados que interessam aos governos locais, porém, já começam a aparecer, estimulando-se inclusive a ciência da administração urbana (ver Candotti). Os textos constitucionais dos estados são suficientemente abrangentes para incorporarem necessidades de pesquisa urbana. Afinal, ciência não serve só à tecnologia. O fomento à pesquisa ainda representa um ótimo exemplo do que os estados federados podem fazer de melhor como facilitadores do desenvolvimento regional e local.
Na esfera municipal o fenômeno relativamente novo é o surgimento dos institutos de pesquisa e planejamento urbano que, inspirados na experiência do IPPUC de Curitiba, iniciada ainda na década de 1950, procuram criar estruturas locais capazes de estimular a reflexão e de propor medidas alternativas para o desenvolvimento urbano local aos governos que os mantêm. Apesar do pouco que se sabe sobre as origens desses institutos, suas estruturas, bases de sustentação financeira, linhas de trabalho, resultados alcançados e necessidades de apoio, cada vez mais capitais e cidades de porte médio contam com os seus institutos de pesquisa e planejamento urbano ou entidades do gênero.
Há notícias de que esses institutos se ressentem da falta de recursos e se defrontam com as dificuldades de afirmação da atividade de planejamento no país. Alguns sofrem também com a descontinuidade administrativa. Os IPPUs municipais, entretanto, se constituem em alternativas diante dos desafios de governar áreas urbanas cada vez mais complexas e carregadas de demandas sociais, em um contexto de enormes exigências sobre os governos locais. Vale observar que o municipalismo dos anos 90 difere basicamente do municipalismo da virada da década de 1940 para a de 1950, quando se criou o próprio IBAM, por uma mudança substancial da participação da esfera federal na repartição dos encargos e das funções de governo, especialmente no que diz respeito à articulação e ao apoio aos municípios.
O contexto atual é ainda de perplexidade, em face do hiato de conhecimento provocado pela recente transição apontada. Desmontou-se uma superestrutura de patrocinadores e executores de pesquisas enquanto mal se desenharam as contrapartidas estaduais e municipais. Quanto ao Governo Federal, não há pesquisador sério que possa advogar ou se conformar com o fim definitivo do seu patrocínio para a pesquisa urbana do país. Os governos nacionais, mesmo diante da municipalização, são elos privilegiados com a globalização e, cada vez mais, agentes estratégicos de desenvolvimento cujas decisões impactam o conjunto do território e os meios urbanos, dos quais as cidades hoje são apenas uma fração.
Essa transição é contemporânea de alguns novos fenômenos urbanos sobre os quais pouco se sabe, dado o recuo da pesquisa. Se antes podíamos errar menos nas intervenções de planejamento e de ação sobre os meios urbanos, dado o conhecimento atualizado então disponível, hoje sequer contamos com informações e resultados confiáveis de pesquisas capazes de indicar uma diretriz segura para a tomada de algumas decisões. A capacidade remanescente de produção de estudos e pesquisas urbanas no Brasil, entretanto, ainda hoje, contrasta com os resultados limitados das políticas públicas no país.
O IBAM tem sido permanentemente procurado por técnicos municipais em busca dos resultados das suas investigações. O Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas, nos seus 25 anos de existência, acumulou mais de 200 trabalhos, executados em sintonia com o dia-a-dia dos governos locais brasileiros. As novas demandas a ele dirigidas pelos municípios, porém, têm sido uma espécie de termómetro das carências atuais nesse campo onde há muito o que ainda realizar.
Diretrizes para uma Pauta de Trabalho
Nesses últimos anos, em face da escassez de patrocínios, os pesquisadores mais persistentes vêm adotando a estratégia do náufrago tentando sobreviver. Boiam enquanto administram suas capacidades de reação e observam as condições do mar, nadando com suas próprias forças e sonhando com a chegada de socorro até um porto seguro. Se por um lado muitas das experiências de êxito em desenvolvimento na resolução de problemas urbanos são resultados de conquistas da pesquisa nos anos que passaram, por outro lado é inquietante verificar o quanto poderiam ser aperfeiçoadas as políticas públicas aluais com o recurso à capacidade de reflexão e proposição dos pesquisadores.
O primeiro desafio é o das barreiras políticas. O convívio entre pesquisadores, patrocinadores, governo e sociedade exige a montagem de uma pauta de trabalho que permita transformar linhas de investigação de consenso em resultados que levem a ações práticas capazes de influenciar a formulação de políticas públicas a partir de princípios programáticos.
O segundo desafio é o do patrocínio. A regionalização e a municipalização da pesquisa podem representar uma saída alternativa, mas limitada, seja pela dificuldade natural de retorno imediato dos investimentos, seja pelo perigo do excessivo localismo da escala de observação dos fenômenos urbanos adotada. Há uma pauta inevitável de investigação que demandará sempre o apoio da esfera federal de governo em temas de interesse geral. Pode-se pensar em constituir consórcios de pesquisa, seja entre cidades com problemas comuns, como é o caso das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, seja entre entidades executoras ou patrocinadoras que tenham capacidades ou interesses complementares.
A criação de um fórum dos institutos de pesquisa e planejamento municipal já constituídos poderia ajudar e apontar outras saídas. Tampouco pode-se abandonar os esforços para que os estados federados cumpram os dispositivos das suas Constituições na formação dos fundos de amparo à pesquisa previstos. Deve-se indagar também se há saída para a pesquisa urbana fora do patrocínio oficial. Como mobilizar o setor privado, as ONGs financiadoras e a cooperação internacional no esforço de melhorar o conhecimento e os instrumentos de ação sobre os meios urbanos numa perspectiva de incorporação de todos no fortalecimento amplo da cidadania, que atenue progressivamente a exclusão social? A ideia de um lobby da pesquisa urbana por maiores patrocínios, nesse sentido, não pode ser vista como corporativismo, mas como forma de assumir um protagonismo social comprometido com mudanças.
O terceiro desafio diz respeito aos temas de investigação. O mínimo que se pode desejar como diretriz geral é que escapemos do excessivo academicismo, em busca de uma melhor sintonia com as carências das cidades e dos cidadãos. Não se trata, porém, de dirigir o trabalho para um pragmatismo e imediatismo cego e ingênuo, mas de garantir ressonância local para o diálogo produtivo dos pesquisadores com os governantes das cidades. Prefeitos e vereadores, por sua vez, terão que superar o prazo politicados mandatos, pensando em estabelecer bases duradouras para a consolidação de práticas técnico administrativas, incluindo a atividade de pesquisa, mais sustentáveis no tempo.
Dos meios financeiros internacionais, as recomendações quanto a linhas prioritárias de pesquisa apontam para as relações entre os temas econômico-financeiros e a organização interna das cidades. Michael Cohen (1991), em um documento do Banco Mundial, sugere priorizar os “vínculos entre a economia urbana e os agregados macroeconômicos, a eficiência interna das cidades e a produtividade urbana, a pobreza urbana e o setor informal, o financiamento dos investimentos urbanos, o papel do governo no processo de desenvolvimento urbano e o meio ambiente urbano”. Esses temas ganham importância, conforme observa Cohen (op. cit. p. 7), em face dos elos financeiro, fiscal e imobiliário que os municípios manejam no desempenho da economia urbana, cobrando tributos, aplicando recursos, legislando sobre o uso do solo e tomando decisões que impactam o nível macroeconômico.
Essa pauta sugerida por Cohen assume novos enfoques quando examinada pelos cientistas sociais, deslocando-se o interesse das investigações da cidade em direção aos cidadãos. Nessa linha ainda há muito o que se pesquisar sobre as relações entre a construção do espaço da cidade e a cidadania, verificadas segundo territorialidades, localizações e acessibilidades a bens e serviços urbanos. A investigação sobre essas relações, segundo diferentes grupos sociais (gênero, faixas etárias, etnias, deficiências físicas, etc.), poderia apontar carências diferenciadas desses grupos dirigidas a políticas públicas específicas (Lopes, 1993).
Os temas em pauta se acumulam. Pouco se sabe, por exemplo, sobre os impactos da Lei Federal n• 6.766, de dezembro de 1979, que trata sobre loteamentos, na estruturação urbanística e no mercado imobiliário das cidades. Um amplo estudo iniciado pelo IBAM, com o patrocínio do CNDU, sobre a legislação urbanística municipal não chegou a ser concluído, devido à extinção daquele Conselho. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, introduziu novos instrumentos de controle urbanístico, depois incorporados aos planos diretores das cidades, que, além de não terem sido regulamentados, mal começam a ser avaliados. Prosseguem também os esforços do Fórum Nacional de Reforma Urbana, articulado por entidades civis, no sentido de se estabelecer um estatuto legal para as cidades que amplie as alternativas de ação dos prefeitos. Há um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional nesse sentido.
A temática ambiental vem sendo incorporada, pouco a pouco, como dimensão de planejamento junto aos governos. Há necessidade, porém, de sistematizar padrões ambientais de referência para o projeto e a gestão das cidades, de maneira objetiva e operacionalizável pelos técnicos locais.
Os ternas ligados à gestão das cidades ganham cada vez mais força, empurrados pelo municipalismo generalizado no mundo. As linhas de investigação, nesse particular, cobrem um amplo rol de assuntos. Basicamente procura-se fornecer subsidias para o aperfeiçoamento do exercício das funções de governo, especialmente na prestação de serviços públicos, enquanto avaliam-se as potencialidades e limitações da privatização nas diversas áreas setoriais (saúde, educação, saneamento básico, transportes, etc.).
A relação governo-sociedade vem exigindo também estudos que apresentem alternativas para a democracia participativa. A tradicional força que as secretarias de governo acumularam em áreas setoriais, difíceis de se articularem, começa a ser posta em xeque por experiências de planejamento calcadas em bases territoriais (planos de bairros ou setores urbanos correspondentes a regiões ou distritos administrativos). Depois da experiência do Rio de Janeiro e da tentativa da gestão passada da Prefeitura de São Paulo, Niterói e Campinas são duas outras cidades que vêm trabalhando nesse sentido. Essa desconcentração das ações dos governos
locais foi em direção a atares sociais que reclamam mais proximidade e abertura para a resolução de demandas locais. Há também esforços de pesquisa dirigidos ao assessoramento direto aos movimentos sociais, em busca da sistematização de um projeto popular para as cidades.
O diálogo entre governos e cidadãos poderia ser bastante aperfeiçoado através da investigação da utilização correta dos meios de comunicação, do mais rudimentar até os meios informacionais, partindo-se do compromisso primário de informar aos cidadãos aquilo que precisam e têm o direito de saber sobre o seu município e o seu governo. Algumas experiências vêm sendo tentadas nesse assunto.
Toda essa pauta de estudos e pesquisas traz de volta uma velha preocupação dos pesquisadores familiarizados com a temática dos governos locais, que envolve a diversificada tipologia dos municípios brasileiros. Pode-se agrupá-los por faixas de população, base económica e grau de dependência de trocas externas, participação em aglomerações urbanas ou metropolitanas ou outros critérios que só um estudo mais aprofundado poderá indicar. A rigor, o objetivo da classificação é que poderá indicar as variáveis a serem utilizadas.
A falta de dados básicos sobre a urbanização brasileira, que possam orientar um estudo sobre tipologia municipal, vem sendo enfrentada com enormes esforços. O IBAM vem desenvolvendo o IBAMCO, um banco de dados municipais mantido no Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas do Instituto, que tem por finalidade reunir e analisar dados sobre os municípios brasileiros. O IBAMCO já publicou 143 trabalhos sobre demografia, situação de domicílios, economia, serviços de infraestrutura e serviços sociais, além de estudos especiais sobre diferentes aspectos da administração municipal. O projeto do IBAMCO pode mesmo inspirar a criação de bancos de dados locais semelhantes nas prefeituras.
Quanto aos profissionais envolvidos na pesquisa urbana, além daqueles especialistas já consagrados na investigação sobre a urbanização e a cidade, há alguns que ressurgem e outros novos que aparecem. Assim, junto aos urbanistas, geógrafos, administradores públicos, sociólogos, antropólogos e cientistas políticos ressurgem, não por acaso, os médicos, pioneiros na pesquisa urbana, quando o “problema” urbano se manifestava basicamente como um problema sanitário. Os biólogos estão sendo chamados a colaborar em alternativas ambientais para as cidades. Os economistas continuam sendo desafiados a deslocarem os seus estudos, que enfatizam a macroeconomia, para os microcircuitos económicos de produção e de consumo das cidades. Aqueles que por aí já caminharam encontraram razão para o seu saber na contribuição à melhoria da produtividade da cidade e ao incremento da economia popular. Os semiólogos, antes vistos à distância devido ao objeto e à linguagem um tanto estranhos do seu trabalho, têm muito o que colaborar atualmente no esforço de estudar e agir sobre os meios urbanos. Tratam-se de lugares cada vez mais impregnados por valores simbólicos que a própria arquitetura incorpora como marketing.
Finalmente há que se comprometer os pesquisadores com a difusão dos resultados do seu trabalho. Os benefícios diretos dos estudos e pesquisas precisam ser difundidos para os cidadãos, ocupando-se o espaço da imprensa e das organizações da sociedade civil.
Um novo ciclo de mandatos de Presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais está próximo de se iniciar em 1995. Os eleitos encontrarão os atuais 4.972 prefeitos e 52.771 vereadores brasileiros em pleno exercício dos seus mandatos. Não faltam razões para lhes apoiarem na geração de conhecimento e na busca de alternativas para as cidades brasileiras.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Notas
1 O Centro de Pesquisas Urbanas passou a se chamar, em 1986, Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas.
2 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Brasília. Cadastro de pesquisa em tecnologia urbana. Brasília, CNPq, 1979, 167p. Ver também SANTOS, Carlos Nelson F. dos & CAVALIERI, Paulo Fernando. Como vai a pesquisa urbana brasileira? Revista de Administração Municipal. Rio de Janeiro. 27 (154): 6-34. jan./mar., 1980.
3 CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Brasília. Habitação, saneamento e desenvolvimento urbano. Sistema em linha de acompanhamento de projetes: cadastro setorial de pesquisas 80/83. vol.1. Brasília, CNPq, 1983, 269p.
4 O URBANDATA é mantido pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), com o apoio do CNPq, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional (ANPUR).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bibliografia
ABREU, Maurício de Almeida. O estudo geográfico da cidade: evolução e avaliação. Trabalho apresentado no 1° Simpósio Nacional de Geografia Urbana, São Paulo, 1989. 123p. (Inédito).
BRASIL, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Cadastro de pesquisas em tecnologia urbana. Brasília, 1979. 167p.
______. Sistema em Linha de Acompanhamento de Projetos. Habitação, saneamento e desenvolvimento urbano; cadastro setorial de pesquisa 80/83. Brasília, 1983. v.1.
BREMAEKER, François E. J. de. IBAM 10 anos de pesquisas. Revista de Administração Municipal, Rio de Janeiro, v.25, n. 149, p.66-74, out./dez. 1978.
CANDOTTI, Ennio. Plantar C & T nos municípios. Jornal da Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v.8, n. 299, p.9, 3 jun. 1994.
COHEN, Michael. Política urbana e desenvolvimento econômico; uma pauta para a década. de 1990. Trabalho apresentado no Seminário cidade anos 90 – catástrofe ou oportunidade? Rio de Janeiro, 18/19 mar. 1991. [s. l.]: Banco Mundial, Departamento de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 1991. 271.
CORAGGIO, José Luis. Ciudades sin rumbo: lnvestigación urbana y proyecto popular. Quito: SIAP, CIUDAD, 1991. 375p.
FERREIRA FILHO, Gerson, et al. (org.). Fomento à pesquisa: entidades estaduais. Rio de Janeiro: FINEP, 1993. 145p.
LOPES, Alberto Costa. Programa município e cidadania. Rio de Janeiro: IBAM, 1993. (Documento Interno).
MASSOLO, Alejandra. Em direção as bases: descentralização e município. Trad. de Rossella Rossetto. Espaço e Debates, São Paulo, v. 8, n. 24, p.40-54, 1988.
PORTAS. Nuno. Tendências do urbanismo na Europa: planos territorial e local. Oculum, Gampinas. n.3, p.4·13, mar. 1993.
SANTOS, Carlos Nelson F. dos, CAVALLIERI, Paulo Fernando. Como vai a pesquisa urbana brasileira? Revista de Administração Municipal, Rio de Janeiro, v.27, n.154, p.6-34, jan./mar.1980.
SANTOS, Milton. Espaço do cidadão. 2.ed. São Paulo: Nobel,1992. 142p. (Espaços, 5).
SEMINÁRIO LA INVESTIGACIÓN URBANA EN AMERICA LATINA: CAMINOS RECORRIDOS Y POR RECORRER. 2, Quito, 28/30 jun. 1990. Convesaciones sobre los caminos por recorrer. Quito: CIUDAD, 1991.185p. (La investigación urbana en América Latina: caminos recorridos y por recorrer, v.4).
VALLADARES, Lícia do Prado, COELHO, Magda Prates. Latin America in the 1990: towards an urban research agenda. Prepared for the Urban Management Programme Annual Review Meeting Workshop. The Hague, 30 june – 2 july. Preliminary version. Rio de Janeiro: IUPERJ, 1993. 28 f., apêndices.
______. SANTANNA, Maria Josefina Gabriel, CAILLAUX, Ana Maria Lustosa (org.). 1001 teses sobre o Brasil urbano; catalogo bibliográfico (1940 – 1989). Rio de Janeiro: IUPERJ, 1991. 198p.