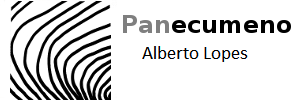O tema metropolitano parece voltar timidamente à agenda política de ação do Governo. Dentro da Academia, nos últimos anos, o assunto já voltava a ganhar força, através do vivo interesse em se examinar aspectos críticos do processo social e territorial nesta virada do milênio, do qual as regiões metropolitanas1 são um locus privilegiado. Na mídia o tema tem estado ausente, uma vez que o fenômeno metropolitano só consegue visibilidade a partir da sua construção artificial como campo de interesse da cultura e das políticas públicas.
O trânsito do assunto para a agenda mais estritamente política e administrativa, no sentido da sua percepção, assimilação e influência sobre o exercício formal da institucionalidade e da governação do país, não se faz sem filtragem e avaliação de contexto para ação. Por um lado, ainda somos tentados a olhar para trás, através de análises cada vez mais elaboradas sobre o processo histórico e a experiência que vem do curto período de “apogeu” das entidades metropolitanas nos anos 70. Por outro lado, prospectivamente, e por dever de ofício ou alinhamento político, muitos de nós somos tentados a uma exigência mais radical sobre o que significa atuar nos meios metropolitanos numa perspectiva transformadora. O contratempo na retomada do assunto se explica, em parte, pela dificuldade de por em marcha políticas que escapem do tudo ou nada. Se explica também pela dificuldade de implementar um projeto político que promova profundas mudanças na lógica e no destino social da ação de governo, na qual a organização e o conteúdo do território sejam considerados. Mais do que isso, como atuar na escala metropolitana incidindo nas escalas inferiores (municipal, de bairro, comunitária) e superiores (nacional e global), que também a impactam e definem? Como escapar, ao mesmo tempo, de um imobilismo cego (ou, quem sabe, muito bem orientado) de uns e de um ativismo que não se conforme com medidas mitigadoras ou que se inscrevam na ótica pura e simples da administração de impactos e de conflitos ou da mera contenção de tensões sociais? Como, finalmente, lidar com os múltiplos tempos políticos implicados na questão metropolitana de modo a melhorarmos o desempenho dessas enormes aglomerações urbanas oferecendo a mediação favorável do Estado aos atores sociais mais vulneráveis, na urgência em que muitas de suas demandas se manifestam.
O fato é que a significativa produção de conhecimento sobre o fato metropolitano no Brasil, oriunda sobretudo do meio acadêmico, contrasta com a dificuldade de incluir o tema numa agenda política ainda cambiante, tomada por inúmeras reformas (Estado, Seguridade Social, Tributária, Trabalhista, Justiça, Política, Urbana), que vá além do reconhecimento (ou quase denúncia) dos fatos e das boas intenções.
Antes de tudo, tratar genericamente do “metropolitano” pode ser pouco produtivo se não partimos: de um objeto minimamente focalizado; de um marco político e programático de compromissos que reflitam desafios claros a superar e; das especificidades de cada tema, serviço ou subsistema metropolitano a tratar. Sendo assim, antes de prosseguir, mesmo que de forma resumida, tomaremos posição aqui sobre três questões conceituais fundamentais para a abordagem do assunto:
- o conceito de espaço metropolitano;
- o conceito de deseconomia, que está na raiz da questão metropolitana;
- a distinção das lógicas dos serviços ou subsistemas metropolitanos.
Já tratamos do conceito de espaço metropolitano em outros trabalhos2, procurando sempre distingui-lo de uma acepção genérica de espaço e tornar o nosso entendimento mais operativo para os propósitos aqui assumidos. Quando se fala em gestão metropolitana a primeira pergunta a fazer é: gerir o quê? qual é o objeto da gestão no contexto de uma determinada região e de um determinado tempo?
A especificidade do metropolitano decorre do fato de os elementos do espaço (meio ecológico, infra-estruturas, sujeitos sociais) guardarem uma interdependência estreita, sistemática e cotidiana, manifesta de forma concentrada em uma determinada fração do território que encontra-se fragmentado pela divisão político-administrativa vigente. No território metropolitano, a escala de ocorrência de determinados fenômenos geográficos não encontra correspondência com a escala de atuação de determinados sujeitos sociais, notadamente dos governos locais, implicados na gestão daqueles fenômenos. O fato metropolitano se expressa assim pelo derramamento da espacialidade dos elementos do meio ecológico, das infra-estruturas, dos sistemas urbanos e dos próprios sujeitos sociais para além das fronteiras municipais, em um contexto geográfico de progressiva conurbação… e interdependência sistêmica de funcionamento do conjunto… Formam-se centralidades, especializam-se lugares, segregam-se pessoas e estabelecem-se linhas de desejo preferenciais para a circulação, consolidando complementariedades intermunicipais.
Ocorre ainda que cada subespaço metropolitano é atingido de modo desigual em relação aos demais pelo movimento do conjunto, reforçando a heterogeneidade interna e a formação de subconjuntos metropolitanos submetidos a dinâmicas próprias (LOPES, 1995).
No entanto, as divisões intermunicipais são apenas uma das modalidades de limites, fronteiras, barreiras e domínios que demarcam territorialidades intrametropolitanas. As características de mobilidade do setor público no território (aqui no caso, particularmente o território metropolitano), por exemplo, diferem das características de mobilidade do setor privado. Enquanto para a ação do setor público o território está fragmentado por circunscrições administrativas (como as municipais), competências de governo e, muitas das vezes, por uma débil articulação intersetorial e intergovernamental, o setor privado goza de canais legais e financeiros mais flexíveis, dinamismo empreendedor e condições para ações associadas com parceiros em negócios que, mesmo sob competição, podem se expandir com mais facilidade no território metropolitano3.
Ocorre que o fato metropolitano tende a gerar (e ser gerado por) toda sorte de “deseconomias”. As deseconomias, no entanto, só podem ser tomadas como um recurso de reflexão pois, na verdade, numa contabilidade global de custos econômicos e custos sociais, elas não existem; alguém se apropria das externalidades geradas por essas deseconomias. A deseconomia de uns costuma constituir a economia ou a oportunidade de outros. As perdas de tempo em longas viagens diárias casa-trabalho pela massa de trabalhadores metropolitanos refletem, de fato, deseconomias que incidem negativamente na vida desses trabalhadores mas, que tendem a incrementar a economia de um sistema de transportes desarticulado, caótico e ineficaz, que não está orientado para a promoção do cidadão e para a economia de tempo necessária à reprodução da sua força de trabalho, senão para tirar proveito da sua fragilidade como ator social. Há assim, neste caso, uma captura da oportunidade econômica criada pela necessidade vital de mobilidade da população por distintos agentes e empresas operadoras do sistema de transportes que geram deseconomia para o cidadão. Quando se menciona, por exemplo, o passivo ambiental verificado nas áreas metropolitanas, é preciso identificar as externalidades positivas e negativas geradas para os distintos atores sociais, agentes ou vítimas do processo de degradação do meio ambiente. O mesmo pode ser dito sobre o sistema de saúde (mesmo com o advento do Sistema Único de Saúde, o SUS, e a existência da rede privada), onde os melhores serviços da rede costumam estar nos lugares mais centrais da região em detrimento das periferias que mal conseguem garantir atendimento básico curativo.
Como na periferia não costuma haver muita densidade econômica, tampouco massa tributável que possa incrementar significativamente a receita pública, se agravam aí também as condições para o financiamento da ação de governo, particularmente dos governos locais, que têm responsabilidades diretas e capilares com esses territórios muito circunscritos ao abrigo da indigência. As dinâmicas incidentes no território metropolitano tendem a dirigir as externalidades positivas para as áreas centrais enquanto drenam as negativas para a periferia. Arma-se assim uma equação locacional perversa, na qual os lugares das regiões metropolitanas que concentram as maiores demandas sociais tendem a estar nos municípios mais fragilizados e com menor capacidade de resposta, inclusive financeira. Onde os custos sociais de viver são os maiores ou os mais duros de enfrentar, os custos econômicos para se morar tendem a ser os menores e vice-versa. Como o espaço metropolitano, ao menos no Brasil e resto da América Latina, tende a se constituir pela hipertrofia do centro em relação à periferia4, as chamadas deseconomias contribuem assim para sustentar uma cadeia (im)produtiva que só realimenta os atores sociais com maior capacidade de se impor no cenário, realimentando também a força centrípeta das áreas mais centrais. Ao fim e ao cabo, nesse contexto da organização territorial metropolitana, as deseconomias são, ao mesmo tempo, fruto e semente da estrutura centro-periferia que, sem a intervenção mediadora e redistributiva do Estado só tende a se exacerbar.
O caráter e o propósito da gestão do espaço metropolitano dependerão do projeto que se formular para a região e para o país … indicando o tratamento a ser dado ao meio ecológico, o nível de apropriação social das infra-estruturas e os papéis e compromissos dos sujeitos sociais (LOPES, 1995).
Para a prática da gestão metropolitana, ocorre ainda que cada sistema urbano e suas respectivas partes constituintes tende a apresentar lógicas próprias de: expressão técnica e funcional no território; exigências institucionais de organização; mecanismos administrativos para operação e; sustentação financeira. Enquanto os sistemas hidro-sanitários (drenagem pluvial, abastecimento de água, esgotos) seguem as bacias hidrográficas, os sistemas de transportes seguem as bacias de origem e destino das viagens dos passageiros e assim por diante. Diante disso, as linhas divisórias entre municípios tendem a dissociar a territorialidade da demanda da circunscrição territorial dos responsáveis pela oferta de cada serviço público, muitos deles prestados diretamente ou concedidos pelos Municípios. O sistema de transportes públicos é autofinanciado pelo pagamento direto e imediato das passagens pelos usuários5, garantindo liquidez diária para a sua manutenção e a realização dos lucros das empresas operadoras. Já a pavimentação das ruas, por exemplo, suporte e condição desejável para o bom desempenho de um sistema de transportes, depende de priorização orçamentária e, quase sempre, de longas lutas políticas dos moradores dos bairros periféricos para ver estes investimentos públicos realizados. Quando uma prefeitura pavimenta uma rua o benefício não está associado à uma noção de lucro expresso em valores monetários e com liquidez diária decorrente do uso, mas a uma noção de combate a deseconomias que pode anular privações e fortalecer o desempenho social pelo menos dos moradores e usuários da área. Isto explica por que é comum o transporte público chegar antes da pavimentação das ruas nos bairros da periferia. O sistema de saúde público é mantido por recursos orçamentários diretos e subsidiados das três esferas de Governo, com todas as implicações decorrentes para a coordenação, a qualidade e a sustentabilidade do sistema. Finalmente, cada serviço urbano incide sobre distintos grupos ou perfis de beneficiários, em função de serem de atendimento universal, cotidiano e prestados diretamente nos domicílios (energia, água, esgotos); segmentados por características etárias do público (escolas seriadas, creches, equipamentos para a terceira idade) ou; de afluência difusa e aleatória em relação ao tipo e à frequência dos usuários (equipamentos culturais, unidades de saúde). Cada um desses serviços se dispõe assim de modo distinto para os seus respectivos beneficiários ou consumidores, induzindo a adoção de lógicas também distintas de priorização e gestão por parte dos prestadores.
A retrospectiva da experiência brasileira em gestão metropolitana permite observar como todas essas questões foram sendo tratadas em contextos tão diversos dessa longa transição política do país nas últimas décadas. Permite também observar lições e sublinhar oportunidades atuais de contexto que possam inspirar políticas de Governo.
Os últimos trinta anos podem ser divididos em dois períodos distintos em termos de motivação para a ação metropolitana, segundo as fontes de coesão e de sustentabilidade dos atores em movimento. O primeiro período, que se estende do início da década de 70 até meados da década de 80, se caracterizou como de uma Coerção Simétrica, implementada desde o Governo Federal. O segundo período, que se formou no cenário da redemocratização da primeira metade da década de 80 e se estende até praticamente os dias atuais, se caracterizou como de um Voluntarismo sem Modelo, praticado entre municípios e outros agentes, públicos e privados, interessados na ação metropolitana. Este segundo período, no entanto, dá sinais claros de ter esgotado o seu alcance, uma vez que o país busca sustentabilidade política garantida por um marco jurídico em mutação e um pacto programático que, se espera, estimulem e promovam iniciativas e respostas mais profundas e eficazes à agenda metropolitana dos tempos atuais.
A Coerção Simétrica dos 70 e 80
Antes da década de 70, o que havia no país em termos de experiências de gestão metropolitana eram iniciativas não muito formalizadas entre municípios de uma mesma região que buscavam, de maneira autônoma, resolver alguns problemas comuns, agravados pela intensificação do fenômeno da metropolização. Com o advento da ditadura militar e do correspondente centralismo instaurado no país, a partir de 1964, o território passa a assumir uma dimensão estratégica nas políticas de governo, só antes vista na outra ditadura do século XX, a ditadura Vargas das décadas de 30 e 40. O centralismo, exercido no período de 1964 (mas, sobretudo, a partir da Constituição Federal de 1967) a 1985, foi responsável pela imposição, em cascata, de uma estrutura política e administrativa de controle dos estados, dos municípios das capitais e de uma variada quantidade de outros municípios considerados pelo regime como de interesse da segurança nacional, alguns desses também integrantes de regiões metropolitanas. O Presidente da República, indicado pela estrutura militar, indicava os Governadores dos estados federados que, por sua vez, indicavam os Prefeitos daqueles municípios. Vale lembrar que as primeiras nove regiões metropolitanas instituídas no país – as oito primeiras em 1973 e a nona em 1974, depois da fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara – tinham como sedes as capitais dos seus respectivos estados. Quanto à representação política, nos Conselhos Deliberativos dessas entidades metropolitanas então criadas somente o Prefeito da capital tinha voto.
Criou-se também, na época, uma superestrutura federal de apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento urbano e às regiões metropolitanas. Surgem, no período, o Banco Nacional da Habitação (BNH), o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU), a Comissão Nacional de Política Urbana e Regiões Metropolitanas (CNPU) sucedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano (CNDU). Para o financiamento foram criados ainda Fundos de Desenvolvimento Metropolitano, com prioridade para os municípios que colaborassem com as ações de gestão implementadas pelos estados.
Esse período caracterizou-se assim como de Coerção Simétrica através da iniciativa, da vinculação institucional, da sustentação política e financeira e do repertório de ações metropolitanas empreendidas desde o Governo Federal. O contraponto era a correspondente perda de poder e autonomia política e financeira dos municípios em geral e da periferia em especial. Apesar desse modelo de gestão metropolitana tender à simetria, atrelando as entidades aos Governos Estaduais, admitiu formas institucionais distintas em cada lugar, incluindo órgãos da administração direta, fundações, autarquias, paraestatais constituídas como empresas públicas e mesmo sociedade anônima (caso de São Paulo) controlada pelo estado. O fato, no entanto, é que as formas jurídico institucionais, adotadas distintamente em cada lugar, não se mostraram decisivas para explicar o desempenho, os êxitos ou os fracassos dessas entidades no passado.
Do ponto de vista da ênfase temática onde se concentraram os maiores esforços e investimentos, houve naquele período uma clara prioridade para a circulação, o transporte urbano e a construção civil, setores com destaque nas políticas macroeconômicas do Governo. Foi a época da construção dos primeiros sistemas de metrô e de grandes obras rodoviárias, como a Ponte Rio-Niterói. A atividade imobiliária intensificava vigorosamente a expansão vertical das grandes cidades. Nesse período, as entidades metropolitanas produziram também uma grande safra de Planos Diretores de Desenvolvimento Integrado para os municípios das periferias das regiões metropolitanas brasileiras, mas sem lograr fortalecer a capacidade de gestão dosgovernos locais que os pudessem, de fato, implementar, em atenção a uma agenda metropolitana comum.
Um olhar mais apurado sobre a missão, a agenda e os compromissos efetivos dessas entidades na época mostra uma apropriação da antiga teoria dos pólos de desenvolvimento, que influenciava o planejamento estatal naquele período pela sua funcionalidade ao cenário político centralista. Essa teoria tomava as cidadespólo das regiões metropolitanas, todas capitais de estados, como lugares privilegiados dos investimentos, prometendo irradiar progresso para as periferias. Ao contrário, porém, somente a título de exemplo, nenhum trilho dos sistemas de transporte do metrô foi implantado em qualquer município fora da capital de estado, servindo isto de metáfora sobre a estrutura vigente de (não)representação política dos prefeitos da região. Houve assim, uma exacerbação dos diversos tipos de deseconomias desfavoráveis aos lugares e pessoas mais pobres ou menos conectados com as centralidades verificadas no espaço metropolitano. Como o lugar no espaço tende a refletir o lugar no poder, pouco a pouco se acentuaram as desigualdades sociais, observadas numa equação locacional em que estar longe do centro, mais do que uma posição geométrica no espaço metropolitano, era estar longe do centro do poder.
Finalmente, do ponto de vista da lógica de organização e prestação dos serviços públicos, houve uma centralização empresarial em concessionárias da esfera estadual do governo. O caso dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário é bastante ilustrativo da política do período. A partir da criação do Plano Nacional de Saneamento, os municípios foram concedendo esses serviços a companhias de água e esgotos estaduais, financiadas por recursos do Governo Federal, através do BNH.
O Voluntarismo sem Modelo dos 90
Esse período, ainda não totalmente encerrado, se caracteriza pelo domínio das iniciativas de ação metropolitana em que a vontade supera a razão. A inauguração dessa nova fase decorreu da crise de um modelo coercitivo que não contava mais com o cenário político centralista, com os recursos solapados pela crise de financiamento do Estado e pelo concomitante desmonte da superestrutura de apoio federal ao desenvolvimento urbano. O esgotamento da ditadura e a volta das eleições para governadores dos estados, em 1982, e prefeitos dos municípios das capitais e dos demais municípios considerados de segurança nacional, em 1985, fez animar a vida política do país e abrir espaço para a manifestação de demandas sociais até então reprimidas na pauta de governo. O resultado imediato dessa abertura foi a ampla vitória de candidatos da oposição para os governos estaduais e vários importantes governos municipais, sobretudo das capitais.
A Constituição Federal de 1988 veio animar, em parte, expectativas de uma longa luta política dos movimentos sociais e de organizações da sociedade civil. Por outro lado, os municípios da periferia passaram a apresentar crescimento populacional, em média, duas vezes superior ao dos municípios das capitais. Além disso, mesmo diante da indigência social e ambiental da periferia, surgiram aí novos empreendimentos e centralidades em busca de novas vantagens locacionais para a produção (caso das indústrias) ou mesmo de um mercado consumidor no qual, mesmo com baixo nível de consumo, valia a pena apostar com estratégias comerciais de larga escala (casos de hipermercados e shopping centers). No caso das indústrias, houve mesmo uma periferização do setor. Esses fatos geográficos novos significaram um aumento da densidade política e eleitoral da periferia. Operou-se assim, uma requalificação relativa da periferia que, apesar da ênfase na expansão dos negócios e do consumo, em vez da expansão dos meios de vida para afirmação da cidadania, favoreceu uma estrutura mais policêntrica do conjunto do território metropolitano, antes hipertrofiado.
Apesar da abertura política não haver promovido uma democratização radical da vida social brasileira, surgiram também novas redes sociais e abriram-se condições e oportunidades de maior legitimidade e representação dos agentes públicos nos fóruns decisórios sobre a vida política do país. Não surpreende, portanto, que Prefeitos e Prefeitas das capitais, antes os crupiês do jogo metropolitano, tenham caído em estado de silêncio sobre o assunto, enquanto um novo protagonismo surgiu entre os seus pares nas cidades da chamada periferia6. Isto reflete, de fato, nos dias atuais, uma mudança substancial na ordem política metropolitana em relação a décadas passadas, estabelecendo-se novas exigências para a montagem e a implementação de uma agenda de ação no assunto.
Vale observar que, com o forte papel indutor dos investimentos públicos, diga-se de passagem, tomados como empréstimos externos, sobretudo para a realização de grandes obras de engenharia civil nos anos de 1970, as regiões metropolitanas haviam se constituído no destino privilegiado das migrações internas do país, tendo acumulado uma enorme força de inércia sobre a agenda pública. O agravante, ou sintoma, da crise da gestão metropolitana foi a crise de financiamento do Estado e o desmonte da superestrutura federal de apoio ao desenvovimento urbano ocorrida nos anos 80.
Com o enfraquecimento das antigas entidades metropolitanas das décadas de 70 e 80 e a ausência da força coercitiva simétrica federal que as sustentavam, as novas experiências surgidas no país puderam buscar formas autônomas para responder à pauta e às exigências de contexto de cada região. A partir de então, o país passa a conviver com dois conjuntos de experiências de gestão metropolitanas: aquelas remanescentes, ainda que renovadas, da matriz estadualizada do passado e as novas, identificadas com um protagonismo voluntarista cujo projeto veio sendo construído local e regionalmente. Estas últimas, por serem novas e não se derivarem das antigas, puderam abrir-se para a flexibilidade e a atualização com o que havia de melhor em termos de opções organizativas e operacionais experimentadas então no país, sem mediação com heranças e forças de inércia institucionais do passado.
O novo quadro constitucional não estabeleceu mais do que uma tímida diretriz sobre a questão metropolitana. O artigo 25 da Constituição Federal estabeleceu que os Estados “poderão” instituir Regiões Metropolitanas, Aglomerações Urbanas e Microrregiões. Não criou-se, de fato, nenhuma obrigação com o tema. Somente mais tarde, inclusive em regiões que já viviam a experiência voluntarista, é que leis estaduais instituíram essas figuras territoriais. Alguns estados, casos do Rio Grande do Sul e de Pernambuco, que já sediavam regiões metropolitanas instituídas na década de 70, passaram também a atuar de forma regionalizada, repartindo o território estadual em unidades regionais de planejamento e gestão onde as antigas regiões metropolitanas figuravam como uma delas.
Nesse novo cenário das novas experiências voluntaristas, cada lugar elege a sua pauta e busca as suas saídas. Os temas setoriais ocupam a pauta onde quer que surjam questões emergentes, urgências e oportunidades efetivas de resposta (mobilidade, destino final do lixo, desenvolvimento econômico). Os esforços são canalizados para questões e metas que exigem foco e capacidade de gerar resultados práticos e efeitos demonstrativos sobre distintas demandas. Observa-se também que o ideário estratégico vivido no Brasil na década de 90 procurou oportunidades na escala metropolitana, inspirando planos estratégicos de escala regional e subregional em algumas regiões do país, casos das regiões do ABC paulista e de Fortaleza7.
As experiências do Voluntarismo sem Modelo pelo país procuram combinar várias formas institucionais de representação política, organização administrativa, suporte técnico e execução de projetos, utilizando-se cada alternativa para um propósito. Os espaços de representação política da sociedade civil e da cidadania costumam ser abrigados em fóruns, sem personalidade jurídica. Os consórcios, por sua vez, são instituídos para a resolução de uma ampla pauta de temas específicos ou setoriais, onde os municípios necessitem de agilidade e mecanismos formais de ação conjunta. Para o fomento econômico têm sido criadas agências de desenvolvimento regional. Vale destacar também figuras como câmaras temáticas que, juntamente com universidades das regiões, dão suporte técnico especializado para a ação. A combinação dessas distintas formas permitiu que não só os municípios estivessem ativos na ação regional, mas também representantes dos respectivos estados e das casas legislativas estadual e federal eleitos nas regiões. No caso das representações parlamentares, os deputados estaduais e federais, eleitos pela região por qualquer partido político, foram chamados a formarem um front legislativo onde quer que os interesses regionais estivessem em jogo, quer na Assembléia Legislativa do respectivo estado, quer no Congresso Nacional, em Brasília. Vale observar que, com a democratização do cenário eleitoral, entraram também em curso iniciativas de distintas origens e composições político-partidárias, ao contrário do período passado onde a ação metropolitana esteve unificada em torno do alinhamento ao governo federal. Quanto à sustentação financeira, não há fundos metropolitanos ativos, senão recursos vinculados a projetos e ações setoriais.
Cabe destacar a experiência do chamado Grande ABC paulista, constituído por sete municípios das bacias do Alto Tamanduateí e Billings, que formam uma subregião da Região Metropolitana de São Paulo, como a mais ousada e completa do ponto de vista da multiplicidade de propósitos e da utilização de formas organizativas. Na região do médio vale do Rio Itajaí, no Estado de Santa Catarina, uma ação regional envolvendo diversos agentes públicos também foi empreendida a partir da combinação de várias formas institucionais e organizativas.
A marca desse Voluntarismo sem Modelo veio sendo, portanto, a iniciativa local / regional sem a promoção ou a cobertura de políticas ou programas federais. Esse voluntarismo não pôde ser mais eficaz devido a algumas fragilidades do marco jurídico nacional (limitando, por exemplo, o alcance e a sustentabilidade dos consórcios) e às dificuldades de se afirmar um projeto político nacional no qual a organização e o conteúdo do território possam responder à dívida social e às deseconomias concentradas nas regiões metropolitanas do país.
Em Busca da Responsabilidade Política com Resultados
Existem hoje (2006) no Brasil 28 áreas metropolitanas oficialmente instituídas. Desse total, 15 são formadas em torno de capitais de estados federados8, 3 são Regiões Integradas de Desenvolvimento (RIDEs) instituídas por leis federais por constituirem-se por municípios de estados diferentes e o Distrito Federal9. As 10 restantes estão concentradas no Sul/Sudeste, com maior incidência nos estados do extremo sul e características bastante diversificadas10. Todas essas 28 regiões estão situadas na banda leste do território brasileiro, refletindo um padrão de rede urbana ainda fortemente derivado da matriz colonial Atlântica que ainda não avançou muito, pelo menos com tendência de estruturação metropolitana, na fronteira pantaneira e amazônica do país, na direção dos países andinos e guianenses.
Essas 28 regiões concentram uma população de cerca de 70 milhões de habitantes, representando cerca de 45% da população total do Brasil. Algumas são formadas por intensa conurbação de cidades, com alta densidade econômica, enquanto outras se justificam por imposição de bacias hidrográficas. No conjunto delas houve, nos últimos vinte anos, um aumento de cerca de três vezes o número de municípios, refletindo um intenso processo de emancipação de novas unidades de administração municipal, sobretudo nas chamadas periferias. O total de municípios incluídos nessas regiões é de 417. Dez dessas regiões produzem mais do que 50% do PIB11 dos seus estados, sendo que em algumas delas esse percentual chega a mais de 70%.
Esses números refletem o valor estratégico dessas regiões metropolitanas no conjunto do território do país12. Não por acaso, a derrocada do modelo de gestão metropolitana coercitivo e limitado à iniciativa do Governo Federal do passado fez surgir um voluntarismo experimentado em várias novas regiões em busca de oportunidades de contexto que melhorassem o desempenho regional. No entanto, uma das lições a tirar desse voluntarismo é que as suas motivações se impuseram na agenda regional não por iniciativas preventivas ou antecipadoras do futuro mas por força de desastres, ameaças ou situações de emergência que acabaram por mobilizar a “comunidade metropolitana”13 em torno de uma causa comum. As enchentes periódicas no Vale do Rio Itajaí, no Estado de Santa Catarina, além da história econômica e cultural comum dos municípios, ligada à colonização alemã, estiveram na raiz do associativismo regional. Os duros impactos da globalização na região fortemente industrializada do Grande ABC paulista causaram alerta para a necessidade de combater prejuízos, atenuar tensões sociais e, ao mesmo tempo, aproveitar a oportunidade para uma reconversão produtiva da região, incorporando perspectivas de cidadania.
No período da Coerção Simétrica, a gestão metropolitana, tal como instituída e exercida na época, foi incapaz de interessar a um conjunto mínimo de atores sociais que pudessem nela fazer apostas e jogar expectativas refletidas em interesses genuinamente locais e regionais. No período seguinte, ao contrário, o Voluntarismo sem Modelo mostrou a força assimétrica que emergiu em algumas regiões do país, capaz de afirmar pautas regionais e, ao mesmo tempo, contribuir para apontar, de baixo para cima, o que poderia integrar um projeto nacional com forte componente territorial. O desafio atual seria estimular as iniciativas regionais genuinamente manifestas pelo país a partir do aperfeiçoamento do marco jurídico e da implementação de políticas, programas e projetos nacionais que dessem suporte, inclusive financeiro, a iniciativas de fortalecimento do desempenho das regiões metropolitanas do país, na perspectiva defendida neste trabalho.
Quanto ao marco legal, mais do que diretrizes gerais de caráter metropolitano, o Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001) estabeleceu instrumentos que, a rigor, na sua aplicação, poderiam envolver territórios de mais de um município metropolitano14. O Estatuto estabeleceu também exigência para instituição de Planos Diretores em todos os municípios de regiões metropolitanas, obedecido o princípio da integração regional.
Esse marco legal pode ainda ser aperfeiçoado, contemplando, por exemplo, maior agilidade e amplitude para a figura dos consórcios, que poderiam inclusive incluir distintas esferas de governo e, quem sabe, setores privados15. Um Projeto de Lei em tramitação no Congresso Nacional propõe instituir o Estatuto da Metrópole. Trata-se de uma iniciativa que, a exemplo do que representou o Estatuto da Cidade para as cidades, procura consolidar em um único documento normativo políticas, diretrizes e instrumentos aplicáveis à gestão regional. Não caberia aqui a análise extensa desse Projeto de Lei. Apenas registrar o seu surgimento num contexto de tentativa de retomada do papel articulador da União sobre assuntos e territórios estratégicos para o país. Nesse processo já haviam sido criados também o Ministério das Cidades e o Conselho Nacional das Cidades, com tendência a inspirarem a organização política e administrativa das demais esferas de governo do país. O risco seria a volta à simetria. Uma política nacional em relação à gestão metropolitana deveria se pautar pelo estímulo à adesão voluntária dos demais entes federados e suas formas associativas regionais, buscando estes se enquadrarem nas políticas e condições formuladas pela União. A saída legalista é limitada. Quanto muito poderá fortalecer um marco jurídico de possibilidades mas sem necessariamente ampliar a dinâmica em torno do tema metropolitano que, ao fim e ao cabo constitui uma questão política.
O estímulo ao investimento privado em parceria com o investimento público, sob controle social, poderia abrir possibilidades de resolução de uma agenda pública que interessasse à gestão metropolitana. Esse esforço poderia ser ancorado em uma revisão ousada de limites, fronteiras, domínios e barreiras que, para além do mero desafio de superação da divisão intermunicipal, pudesse induzir novas territorialidades para os agentes públicos e privados que produzem e consomem as regiões metropolitanas do país. Haveria de estar também ancorado em um novo paradigma quanto à direção econômica, social e geográfica das deseconomias metropolitanas, buscando oferecer à política macroeconômica do país impulsos da economia real mais distributivos e capazes de interessar à cidadania. Uma possível democratização orientada, social e territorialmente, das oportunidades de produção e de consumo poderia colaborar para expandir, na direção das periferias, formas empreendedoras de desenvolvimento que fortalecessem a base social. Isto contribuiria para melhorar a posição relativa dessas periferias para um concomitante combate a deseconomias que lhes fossem desfavoráveis.
A ruptura com a tendência centro-periferia poderia animar iniciativas reprimidas por estigmas e visões de curto prazo sobre o que poderia ser o cenário da organização territorial metropolitana e nacional no futuro. Uma regionalização dos bancos, por exemplo, poderia, quem sabe, estabelecer critérios mínimos de correspondência entre o montante de poupanças privadas depositadas na rede bancária de cada região e o montante de investimentos bancários que deveriam alí ser aplicados para responder às demandas sociais e à dinâmica econômica esperada dessa região. No quadro atual, o que se observa, de fato, é que os capitais privados podem captar e aplicar de acordo com as oportunidades verificadas em cada lugar do território nacional, indiferentes a fronteiras intermunicipais e prioridades públicas. Isto faz com que poupanças de muitas subregiões, mesmo de algumas com baixa densidade econômica, sejam drenadas para aplicações em outras praças financeiras que ofereçam melhores oportunidades de retorno.
Do ponto de vista prático, mesmo dentro do atual ordenamento legal do país, já há uma pauta mínima a seguir na busca de resultados. Para a gestão metropolitana no Brasil, o que costuma ser considerado na pauta diz respeito a questões que se resolvem por soma ou por articulação de ações entre os agentes públicos, notadamente os governos locais. Quando cada Prefeitura executa bem a tarefa de recolher o lixo da sua cidade, a soma de todas essas boas práticas nos municípios tende a produzir um resultado de qualidade para o conjunto dos municípios metropolitanos. Quando, porém, os Prefeitos se veem diante do desafio de dar a melhor solução para o destino final desses lixos municipais, a saída pode estar na soma de esforços, através de um acordo que defina local adequado, condições técnicas, suporte financeiro e contrapartidas. O mesmo pode ser pensado para as fontes de abastecimento de água, o destino os esgotos sanitários, o desenvolvimento da rede de saúde, a integração dos transportes, o desenvolvimento econômico regional e assim por diante. Uma política metropolitana eficás deveria, antes de tudo, fortalecer a capacidade de resolução local de demandas, serviços e funções dos governos municipais, com base nas suas competências.
Vale enfatizar, porém, que a gestão metropolitana é limitada se não atuamos sobre as pressões ou externalidades negativas exercidas sobre a região nas escalas nacional e global. Em outras palavras, as respostas começam mudando as pressões. Como nem todo problema metropolitano é um problema de todo município metropolitano16, cabe apoiar iniciativas subregionais onde se manifestem questões resolúveis nesta subescala. Finalmente, é preciso saltar fora da pauta restrita atual dos debates e discutir a geografia eleitoral e a representação do voto nas regiões metropolitanas. O cenário de eleições é muito propício para isto, pela superexposição da pauta política na mídia. Afinal, o que está em jogo na gestão metropolitana não é nada mais do que o aperfeiçoamento da democracia e da sua expressão viva no território.
Referências bibliográficas
AZEVEDO, H. Gestão metropolitana: um enfrentamento possível. Revista de Administração Municipal Municípios. Rio de Janeiro, IBAM, Ano 49, nº 244, p. 31-37, no.v/dez. 2003.
LOPES, Alberto. O conceito de espaço metropolitano. Rio de Janeiro, IBAM, 1995, 4p. (Mimeogr.)
LOPES, Alberto. Por um ativismo metropolitano de resultados. In FONSECA, Rinaldo Barcia; DAVANZO, Áurea M. Q.; NEGREIROS, Rovena M. C. (orgs). Livro verde: desafios para a gestão da região metropolitana de Campinas. Campinas, Unicamp / Instituto de Economia / Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional, 2002. p.337-353.
LOPES, Alberto. Contribuição para a agenda metropolitana no Brasil. In IBAM, Gestão metropolitana: experiências e novas perspectivas. Rio de Janeiro, IBAM, 1996, p.71-84.
1 Não utilizaremos aqui o conceito de metrópole, de acepção mais referida a uma ordem global de interação entre lugares e, ao nosso ver, menos operativa para o enfoque solicitado deste trabalho voltado para questões de caráter mais administrativo implicadas na gestão metropolitana. No entanto, evidentemente, será considerado o papel dessas aglomerações urbanas numa ordem global que pode conecta-las com lugares dos mais distantes do mundo.
2 LOPES, Alberto. O conceito de espaço metropolitano. Rio de Janeiro, IBAM, 1995, 4p. (Mimeogr.); LOPES, Alberto. Por um ativismo metropolitano de resultados. De volta ao conceito de espaço metropolitano. In Fonseca, Rinaldo Barcia; Davanzo, Áurea M. Q.; Negreiros, Rovena M. C. (orgs). Livro verde: desafios para a gestão da região metropolitana de Campinas. Campinas, Unicamp / Instituto de Economia, 2002. p.337-353.
3 A Constituição de 1937, por exemplo, pôs fim a barreiras alfandegárias, econômicas e comerciais que antes existiam entre municípios.
4 Com variantes para casos como o da região metropolitana de Salvador, onde há uma grande concentração de atividades econômicas e massa de empregos na periferia, apesar de não chegarem a criar “centralidade”, pois na periferia está o emprego industrial, enquanto os serviços se concentram mesmo é em Salvador.
5 Salvo os casos de isenção previstos em lei.
6 Foi criada a Rede Mundial de Cidades Periféricas.
7 Plano Regional Estratégico do Grande ABC e Plano Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza, respectivamente.
8 Porto Alegre-RS, Curitiba-PR, Florianópolis-SC, São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Goiania-GO, Belo Horizonte-MG, Vitória-ES, Salvador-BA, Maceió-AL, Recife-PE, Natal-RN, Fortaleza-CE, São Luis-MA, Belém-PA.
9 Regiões de Petrolina-PE e Juazeiro-BA; Teresina-PI e Timon-MA e; Distrito Federal e entorno.
10 Campinas-SP, Baixada Santista-SP, Londrina-PR, Maringá-PR, Vale do Itajaí-SC, Foz do Rio Itajaí-SC, Norte/Nordeste Catarinense-SC, Carbonífera-SC, Tubarão-SC e Vale do Aço-MG.
11 Produto Interno Bruto
12 O Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas é o espaço de representação de seus interesses.
13 O conceito de comunidade empregado aqui, para além de uma acepção territorial, é o de um forte grupo de interesse que se manifesta numa oportunidade comum. Ver a respeito FERREIRA DOS SANTOS, Carlos Nelson. Estarão as pranchetas mudando de rumo? Chão: revista de arquitetura, Rio de Janeiro, n.1, mar. 1978 p. 22-31.
14 Ver o capítulo Um olhar metropolitano sobre o Estatuto da Cidade em: LOPES, Alberto. Por um ativismo metropolitano de resultados. In FONSECA, Rinaldo Barcia; DAVANZO, Áurea M. Q.; NEGREIROS, Rovena M. C. (orgs). Livro verde: desafios para a gestão da região metropolitana de Campinas. Campinas, Unicamp / Instituto de Economia / Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional, 2002. p.346- 348.
15 Ver também artigo 241 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/1998 – “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ao parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”.
16LOPES, 1996, p.83.
Publicado em: SILVA, Catia Antonia da, FREIRE, Désirée Guichard, OLIVEIRA, Floriano José Godinho de (orgs.). Metrópole: governo, sociedade e território. Rio de Janeiro: DP&A Editora: FAPERJ, 2006, p. 137-155. (Coleção Espaços do Desenvolvimento).