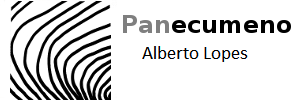A tragédia colossal provocada pelas tsunamis na Ásia estarreceu o mundo pela vulnerabilidade exposta de países, localidades e populações dizimadas que, minutos antes, viviam na serenidade do dia-a-dia. Dos cidadãos mais simples dos bairros pobres do Sri Lanka aos turistas de Phuket ou das paradisíacas Ilhas Maldivas, todos, estavam indefesos contra as ondas gigantes que não selecionaram vítimas. No caso das Maldivas, antes já ameaçadas pelo aquecimento global, a imprensa chegou a especular sobre o desaparecimento da nação, devido às perdas de território e da infra-estrutura turística da qual o país depende visceralmente.
O que fazer então antes, durante e depois de catástrofes como essa? Antes de tudo, trata-se de lidar com: previsão diante das possibilidades da ocorrência; prevenção do que poderia ser evitado ou mitigado e; prontidão para a emergência, o socorro e a reconstrução. Óbvio? Mas as tsunamis mostraram que não.
O período imediato a um desastre natural que afete lugares habitados é privilegiado para uma avaliação de omissões e possibilidades de um esforço preventivo. O evento costuma exacerbar problemas dos assentamentos humanos, revelando aquilo que valia a pena ter sido cuidado no seu planejamento e na sua administração. É comum estarem implicados aspectos de meio ambiente, infraestrutura, padrões construtivos, desenvolvimento social e econômico, além de capacidade institucional, técnica e logística de se impor à ameaça. A receita preventiva evidentemente não começa com o elogio da catástrofe, como oportunidade cruelmente desejável para o aprendizado, mas é sem dúvida nela que estão as lições. O fenômeno poderia não ser um maremoto na Ásia, mas um terremoto em Santiago do Chile, uma inundação em Buenos Aires, Assunção ou São Paulo, as fortes chuvas de fim de verão no Rio de Janeiro, um furacão seguido de tempestade em alguma cidade da América Central ou a seca no Nordeste Brasileiro.
A cidade de Quito fez um registro minucioso do que ocorreu na cidade após um terremoto, nos anos 90. O objetivo foi elaborar um projeto de manejo do risco sísmico na cidade. Tudo foi descrito como num filme: o desenrolar da trama durante o primeiro mês; os cenários da catástrofe; os atores, do povo às autoridades; os dramas da sobrevivência, do socorro e da reconstrução; a contabilidade das perdas sociais, econômicas e ambientais e; as inúmeras interrogações no ar. O que se sabe é que todos perderam e que, se a ocorrência do fenômeno era irremediável, a prevenção poderia ter atenuado muito os seus impactos. Ficou um registro contundente de uma cadeia intrincada de vulnerabilidades que, para além da fatalidade natural, expôs os seus cidadãos a níveis desnecessários de calamidade. O fato é que a recorrência de catástrofes, muitas vezes registradas em irrefutáveis séries históricas, não deixa espaço ao imobilismo, à mea culpa, à comoção tardia com as vítimas, ao fácil resgate de prêmios de seguros (para quem os tem) e ao ranking teatral das indispensáveis ofertas de ajuda internacional. No caso das tsunamis, a informação privilegiada da iminência do maremoto chegou cedo para países que pouco ou nada foram afetados. O mundo ficou sabendo também que os maiores centros de estudos sobre as tsunamis estão nos Estados Unidos.
A primeira lição da catástrofe é que as saídas de curto prazo são condenáveis, uma vez que resulta justamente de omissões históricas acumuladas ao longo do tempo. A experiência mostra a necessidade de se criar condições para a ação pública permanente no assunto. Não há também solução eficaz sem uma mobilização ampla dos interessados antes, durante e depois das ocorrências. A evidência dos erros não admite também que eles sejam repetidos. É comum, por exemplo, a reconstrução de casas em áreas de risco comprovado pelas evidências.
Na cidade de Blumenau, o aprendizado das enchentes da década de 80 deu origem ao Projeto Crise, uma iniciativa de uma universidade regional. Esse projeto, além dos estudos técnicos sobre medidas atenuantes das enchentes, recomendou um sistema de alerta às autoridades e à população, além de propor alternativas para a relocalização de algumas atividades urbanas. É simples de entender. Durante uma enchente quartéis do corpo de bombeiros, hospitais, estações de tratamento de água e outros serviços vitais, não devem ser afetados. Em qualquer caso, assim como mostraram os relatos da imprensa sobre os países atingidos pelas tsunamis, o conhecimento popular na prevenção de catástrofes deve ser valorizado. A repartição social dos custos da prevenção, por sua vez, permite estabelecer compromissos compartilhados por todos.
As experiências, ainda que dispersas, acumuladas no mundo e especialmente pelas organizações internacionais inspiram ações na escala das grandes regiões do globo, países e cidades ou mesmo setores particulares delas. No chamado primeiro mundo, um exemplo merece atenção. A construção do sofisticado sistema de polders dos Países Baixos já havia criado solo continental para expandir e melhorar as condições de ocupação do seu território contra inundações. Agora trabalham para superar novos desafios da sua convivência com a água. A Holanda vem debatendo a chamada Quinta Nota de Ordenamento do Território, que projeta as formas e padrões de uso e ocupação do solo para o ano de 2030. Os estudos, particularmente no campo da economia hidráulica, tomam o progressivo aumento do nível do mar como irremediável. Entre outras medidas, estimula-se a habitação flutuante, já uma tradição no país. Os esforços vêm de toda a nação. Envolvem áreas urbanas e rurais, setores público e privado. O governo central atua em várias frentes ministeriais. Para os municípios, o desafio maior é o planejamento consorciado entre vizinhos, uma vez que a geografia das águas não reconhece fronteiras político-administrativas. O que fazem, na verdade, é tirar vantagem da ameaça, transformando vulnerabilidade em oportunidade estratégica e geopolítica.
Da simples denúncia, ao alerta e, na melhor das hipóteses, ao diagnóstico caprichado das situações de vulnerabilidade aos desastres, passemos então à ação prática preventiva. Do contrário estaríamos condenados a não irmos muito além daquilo que Fernando Patiño Millán chamou de “vulnerólogos” e “desastrólogos”.
Publicado na Seção de Opinião do Jornal do Commércio, p. A-17, em 15 de janeiro de 2005