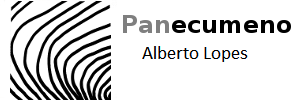Só a festa ou a catástrofe nos unem?
Todos os anos, a cena se repete. Em fevereiro, tem Carnaval. No Rio de Janeiro, a festa é metropolitana. De Niterói, sai para a capital a escola de samba Viradouro; de São Gonçalo, sai a Porto da Pedra; de Nilópolis, sai a Beija-Flor; de Duque de Caxias, sai a Grande Rio. No Grande Rio todas vão se juntar à Mangueira, à Portela, à Acadêmicos do Salgueiro e outras escolas de samba cariocas para a euforia irmanada da grande festa do carnaval.
Como em toda festa, seu momento é breve, mas sua produção é longa e complicada, exigindo a mobilização de uma verdadeira comunidade metropolitana que envolve, além das próprias escolas, a LIESA1, inúmeras empresas e organizações instaladas em vários municípios e o apoio de Prefeituras. A do Rio de Janeiro, anfitriã privilegiada da festa, depois de ver o Sambódromo erguido pelo Governo do Estado, investiu R$ 70 milhões na construção da Cidade do Samba, idéia, aliás, discutida pelo próprio autor deste artigo numa reunião do Plano Estratégico da Cidade para valorizar a produção sustentável anual do carnaval e abrigar os chamados barracões das escolas de samba, inclusive dos municípios vizinhos. O espaço foi concedido pela Prefeitura aos próprios interessados para ser administrado em regime de co-gestão. Até os ensaios das escolas já se metropolizaram. Os cariocas já se habituaram a cruzar as fronteiras do Rio de Janeiro para freqüentar os ensaios das escolas de samba da Baixada Fluminense e do Leste da Baía de Guanabara, enquanto algumas dessas, por sua vez, fazem ensaios também na capital, intensificando com isso a troca de verbas e receitas entre os municípios.
Nesse contexto, as fronteiras intermunicipais são meras formalidades territoriais esquecidas pelo sucesso esfuziante do empreendimento carnavalesco e pela euforia regada a cerveja. Para entrar na avenida essa comunidade metropolitana mostra organização, disciplina, profissionalismo, técnica, criatividade, garra e capacidade de articulação e de engajamento num projeto coletivo vitorioso. É notável também a enorme capacidade de levantamento de recursos e subvenções oficiais, de atração de turistas e de dinamização geral da economia promovida pelo carnaval, assunto, aliás, já estudado pelos acadêmicos (estes sim) da Academia2. Como competição, o desfile das escolas de samba se tornou a nossa Olimpíada metropolitana anual, mostrando o quanto pode significar a boa vizinhança entre os municípios para o bem comum.
Vista assim do Sambódromo, a vida metropolitana parece mesmo uma festa. Mas pobre da cabrocha niteroiense que cair do alto de um carro alegórico, do passista nilopolitano que torcer o pé ou da “baiana” gonçalense que desmaiar com o calor da fantasia. Todos serão atendidos pelo serviço de saúde carioca, mas, passada a folia, no seu cotidiano e longe das câmaras de TV, esses pacientes metropolitanos costumam ser execrados por virem da periferia pressionar a demanda pelos serviços públicos da capital sem que tenham eleito o seu Prefeito nem tampouco pago tributos diretos à cidade. Encerrada a festa, as toneladas do lixo desse carnaval metropolitano serão recolhidas no Sambódromo do Rio de Janeiro e levadas para o aterro sanitário de Gramacho, em Duque de Caxias. Mas os caminhões da Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro poderão ser impedidos pelas autoridades locais de Duque de Caxias de vazar o lixo carnavalesco naquele aterro metropolitano situado no município vizinho, inclusive o próprio lixo deixado no Sambódromo pelos integrantes e torcedores da escola Grande Rio, que vem daquele mesmo município onde se localiza o aterro. Isto, sem falar das necessidades de transporte para o ir e vir dos foliões entre os municípios que, durante o período momesco, exige das autoridades a organização de uma operação especial integrada. Diante dessa interdependência visceral entre os municípios vizinhos, é fácil entender porque, há décadas atrás, num Sábado de Aleluia, moradores de um bairro do Município de Nova Iguaçu malharam como Judas um ex-Prefeito do Rio de Janeiro.
No Recife, em Olinda e em Salvador também se realizam mega carnavais, celebrando-se com frevo e trio elétrico a façanha da boa vizinhança metropolitana que transborda as fronteiras intermunicipais. Afinal, entre nós a produção da festa do Carnaval parece ter se tornado a questão metropolitana melhor resolvida política e pacificamente.
No entanto, duas importantes experiências de caráter metropolitano no Brasil foram motivadas, ao contrário, por cenários de catástrofe. Na região do Grande ABC paulista, uma subregião da Região Metropolitana de São Paulo, os impactos negativos das mudanças na ordem produtiva global dos anos de 1990, sobretudo no desemprego de trabalhadores, motivaram uma das mais ousadas experiências de cooperação intermunicipal de que se tem notícia no país. No Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a tragédia das enchentes dos anos de 1980 fez surgir em Blumenau a famosa Oktoberfest, trazida da Alemanha para ajudar a financiar a reconstrução e as ações preventivas junto com os municípios integrantes da mesma bacia hidrográfica, unidos pelo desafio irremediável da cooperação. Com o tempo, a própria Oktoberfest se tornou um evento regional compartilhado por municípios do vale que hoje integram uma das regiões metropolitanas do estado.
Tudo nos levaria a crer então que, em se tratando da questão metropolitana no Brasil, só mesmo a festa ou a catástrofe é que, de fato, nos unem. De qualquer modo, tratar desse tema difícil e desafiador, no momento atual, exige o artifício da parábola, invocando-se um caminho de argumentação aparentemente insuspeito para introduzir o assunto, contornar resistências imediatas e desarmar atitudes políticas e administrativas insustentáveis diante do interesse público.
Do centralismo à democracia: como responder à pauta metropolitana sem esperar a festa ou a catástrofe
A cultura da administração metropolitana no Brasil, além de intermitente, teve seu início e apogeu em pleno centralismo da década de 1970, no qual uma estrutura de governo em cascata fazia jorrar da esfera federal à estadual e daí à municipal, sem mediações democráticas, as políticas, as decisões, os recursos e a ordem territorial que deveria apoiar o projeto nacional do período. Aliás, pelo menos no caso brasileiro, em todo o século passado, o território só foi assumido como categoria ou dimensão privilegiada do planejamento governamental nas duas ditaduras, a de Vargas, de 1937 a 1945, e a militar, de 1964 a 1985. Isto gerou no imaginário político, administrativo e profissional sobre o assunto uma idéia de que, mesmo diante dos resultados limitados logrados por aquela experiência estadual de planejamento metropolitano no país, os desafios da administração urbana em contextos regionais e, sobretudo, de conurbações de cidades, estariam dependentes e condicionados à iniciativa de cima para baixo. São muitos ainda os saudosistas daquele período de Coerção Simétrica3 a que foram submetidas as entidades metropolitanas estaduais no país, em nome da prestação de serviços e da realização de funções de interesse comum dos municípios.
Na verdade, do ponto de vista dos processos e das dinâmicas que induzem o fato metropolitano no Brasil, é nas escalas global e nacional que devem ser buscadas a sua explicação mais profunda. Aquele velho axioma do “pensar globalmente e agir localmente” pode, aliás, encobrir nossa submissão a uma ordem hegemônica global que quer se internalizar, cada vez com mais capilaridade, em todos os lugares do mundo, com especial interesse e não por acaso, nos espaços metropolitanos. Essa adesão à ordem global costuma nos sugerir de imediato a flexibilidade (de marco legal, de acesso a mercados, de organização interna das cidades), quem sabe para que decisões rígidas tomadas no âmbito global possam ser introduzidas mais facilmente na nossa maciez tropical. Ao contrário, “pensar localmente e agir globalmente” implicaria elegermos uma pauta genuinamente local e dialogar com a ordem global na perspectiva de quem tem identidade e compromisso com o lugar. No entanto, não cabe identificar ingênua e necessariamente o global com o eixo do mal e o local com o eixo do bem. Nas condições em que se estruturam as formações urbanas brasileiras, é indispensável separar o joio do trigo (ou o trigo do joio, dependendo daquilo a que cada um de nós estiver associado), tomando em conta que a expressão física e territorial dos fenômenos urbanos no país nem sempre corresponde ao que aparentemente denotam. Mais ainda, muitas alianças estabelecidas entre o global e o local, ao fim e ao cabo, reproduzem os valores dominantes.
Mas, por isso mesmo, é nos momentos de crise, inflexão ou ruptura na ordem global e nacional que o local costuma encontrar suas melhores oportunidades de afirmação. Inaugurado um novo ciclo democrático, ou de “diástole”, em oposição aos períodos de “sístole”, como diria um ex-ideólogo do centralismo, começamos a ensaiar um diálogo produtivo para a implementação de uma pauta que interessou aos municípios. Mais do que isso, diante da insuficiência das políticas públicas federais no pós-centralismo, foi nos municípios que surgiram e se consagraram nacionalmente experiências emblemáticas que vieram inspirar muitas das atuais políticas públicas federais no campo do planejamento urbano.
De fato, com o advento da redemocratização e do desmonte da superestrutura criada para apoiar o desenvolvimento urbano, que vigorou até meados dos anos de 1980, surgiram, em algumas regiões do país, iniciativas metropolitanas fora da égide dos Governos Estaduais inspiradas em uma espécie de Voluntarismo sem Modelo. Esse período é marcado, antes de tudo, pela articulação horizontal de municípios, a partir de agendas regionais emergenciais cujo tempo político não aconselharia posterga-las. Cenários de catástrofes pautaram algumas importantes ações metropolitanas voluntaristas.
Vale observar que o extraordinário estímulo que vem sendo dado, desde a década de 1980, mas, sobretudo nos últimos anos, como política pública explícita do Governo Federal, aos processos de planejamento participativo4, vem exacerbando as pressões das demandas sobre a Administração Pública. Por um lado, vingou um municipalismo embalado desde os anos de 1980. Por outro, o empoderamento crescente das organizações populares e da sociedade civil vem criando exigências de rapidez e de qualidade para a agenda pública, especialmente para a agenda governamental e particularmente para as Prefeituras brasileiras, vítimas, num certo sentido, da própria descentralização. A profusão e a persistência de competências comuns, concorrentes e complementares entre as três esferas de governo, especialmente para o caso metropolitano, contribuem para alimentar omissões e confundir o cidadão comum a respeito das responsabilidades sobre suas demandas e sobre o seu chão, tomado na escala que for.
O fato agravante é que muitos temas que antes podiam até mesmo ser tomados como bandeiras românticas ou ideológicas dos movimentos sociais, hoje se colocam na agenda pública como desafios irremediáveis de sobrevivência humana, independente do status social, dos valores políticos e do endereço de cada cidadã e cidadão dentro da segregada estrutura das formações urbanas brasileiras. Basta citar os temas da gestão dos recursos hídricos e da violência urbana para que a agenda metropolitana se imponha com força arrebatadora. Para aqueles que ainda postergam o assunto ou pensam que a manipulação do tempo político pode ser mesmo ilimitada, vale citar o filósofo Francis Bacon, para quem “a verdade é filha do tempo”. São Paulo, de fato, já se encontrou com a verdade da escassez de água, da escassez de mobilidade e da escassez de ar puro. O Rio de Janeiro já se encontrou com a verdade da escassez de segurança, apesar disso não ameaçar o poder de sedução da beleza do diabo, que continua a atrair turistas de todo o mundo, especialmente para a festa do carnaval. No entanto, as deseconomias geradas por todas essas agendas pendentes ou ausentes das políticas públicas, que se expressam de forma contundente nas regiões metropolitanas, nos faz indagar se um outro modelo societário urbano seria possível, em que tais deseconomias pudessem ser drasticamente reduzidas.
A boa vizinhança entre os municípios metropolitanos tem que levar em conta o cenário democrático que se consolidou no país e os novos fenômenos ocorridos nas regiões metropolitanas que exigem a instauração de um federalismo mais cooperativo do que competitivo. A questão da liderança não deixará de estar em pauta no jogo metropolitano atual, desde que se trate de uma liderança instituída para representar e não para substituir os liderados. Por outro lado, o aperfeiçoamento da gestão metropolitana somente será possível com o aperfeiçoamento da gestão municipal em cada uma das circunscrições político-administrativas da região. O desafio é de soma e multiplicação, e não de subtração e divisão. Se pudermos ainda ser ousados neste assunto, teríamos que buscar, talvez, um novo modelo de representação do voto nas regiões metropolitanas. Esse exercício especulativo de Geografia Eleitoral deveria partir do fato de que o endereço residencial do cidadão metropolitano constitui apenas um dos lugares onde ele realiza a sua vida cotidiana. Assim como os elementos do meio ecológico (água, ar, solo, flora e fauna) e das infra-estruturas (sistemas de circulação e transportes, redes de serviços), a territorialidade do cidadão metropolitano se derrama para outros municípios onde ele trabalha ou desfila com a sua escola de samba.
Ações de governo em sub-territórios metropolitanos
Ao contrário do planejamento metropolitano dos anos de 1970, uma das características do novo protagonismo que animou as iniciativas metropolitanas desde os anos de 1990, é a ênfase de ações em sub-territórios das regiões, seja em função dos assuntos, dos fenômenos sociais ou dos sistemas urbanos considerados. Assim, incluíram bacias hidrográficas (saneamento), bacias de mobilidade (circulação e transportes), bacias aéreas (poluição atmosférica), zonas litorâneas, entorno de baías e assim por diante. Isto quer dizer que cada questão a resolver implicou um sub-conjunto de municípios metropolitanos e, por conseguinte, um conjunto particular de atores. De fato, as regiões metropolitanas são meras abstrações para as políticas públicas se não precisamos adequadamente a natureza da ação, os atores implicados e o âmbito territorial onde empreende-la.
Na região metropolitana do Recife, o programa Metrópole Estratégica, elaborado em 2002 pela agência estadual CONDEPE/FIDEM, no âmbito do Projeto Cities Alliance / Banco Mundial, previu a implementação de Projetos Territoriais em temas como cultura, transporte/habitação e meio ambiente, envolvendo conjuntos de municípios do litoral, de bacias hidrográficas, do eixo urbano Recife-Olinda e da franja rural.
No chamado Eixo Metropolitano Leste da Baía de Guanabara, formado em torno da polarização exercida por Niterói, há uma manifestação pública de vontade de ação conjunta dos quatro municípios integrantes, em torno de uma agenda que pode incluir, particularmente, transportes e complementaridade econômica.
No Grande ABC paulista, uma sub-região da região metropolitana de São Paulo integrada por sete municípios das bacias hidrográficas de Billings e Tamanduateí, surgiu, em 1990, a iniciativa talvez mais ousada de cooperação intermunicipal. Foi criada uma completa estrutura para o funcionamento da chamada Câmara do Grande ABC (sem personalidade jurídica), constituída por um Consórcio Intermunicipal; Fórum da Cidadania formado por entidades da sociedade civil, representações dos empresários, associações comerciais e; Agência de Desenvolvimento. As ações da Câmara, integradas em um Plano Estratégico Regional, incluíram a revisão da base econômica regional, no sentido da sua diversificação; integração viária intermunicipal; macrodrenagem urbana, envolvendo as duas bacias hidrográficas; gestão de resíduos sólidos e; promoção do turismo regional, que se apoiou inclusive em um esforço de reconstrução de identidade daquela região antes fortemente identificada com a indústria metalúrgica.
Na região de Curitiba, a Prefeitura da capital criou o Programa Cinturão da Boa Vizinhança, com o objetivo de integrar ações entre os nove municípios conurbados. Desses, alguns abrigam importantes parques industriais, enquanto outros abrigam mananciais de água estratégicos para o abastecimento da região. Apesar de ser um programa de Curitiba, o propósito anunciado é sensibilizar e integrar os vizinhos na direção de um regime de co-gestão de iniciativas e projetos. Vale destacar que os limites do município de Curitiba são formados, na sua quase totalidade, por corpos d´água que participam de várias bacias hidrográficas que se estendem pelo território de outros municípios. O programa é de iniciativa da capital, mas está orientado para a identificação clara de problemas que só podem ser equacionados e resolvidos através da cooperação entre os vizinhos. Na agenda deste programa estão incluídas ações de recuperação de matas ciliares, regulação do uso e da ocupação do solo, integração dos sistemas viários municipais visando melhorar a mobilidade, habitação e serviços sociais demandados pela população dessas áreas lindeiras dos municípios que apresentam níveis de pobreza dos mais baixos da região. Finalmente, este programa de intervenções diretas é complementado pelo Programa Curitiba Metropolitana, que prevê ações no âmbito da articulação político-institucional.
Experiências como essas, envolvendo municípios vizinhos, inclusive dentro de regiões metropolitanas, são comuns no Brasil. A nova Lei dos Consócios Públicos5, sem alterar o quadro federativo atual, ofereceu alternativas aos entes federados para atuarem na enorme heterogeneidade de contextos intermunicipais que demandam cooperação das três esferas de governo. Resta saber se a cultura política brasileira acolherá, de fato, essa lei como um verdadeiro instrumento de aperfeiçoamento da federação e de resposta aos impasses atuais. Os estudos futuros dirão, mas tudo indica que a lei não irá resolver muito.
O que podem fazer os Legislativos e seus parlamentares
Em assuntos de governo, o senso comum costuma endereçar as demandas sociais aos Executivos. Mas, hoje no Brasil já se contabilizam iniciativas dignas de destaque para uma reflexão sobre alternativas para a participação dos Legislativos na gestão metropolitana.
Em um estudo elaborado, em 1995, pelo IBAM6, a idéia de estimular a participação mais ativa dos Legislativos municipais em assuntos metropolitanos foi consolidada na proposta de criação de Parlamentos Metropolitanos. Longe de sugerir a criação de uma nova entidade pública com pessoal e orçamento próprios, muito menos de um organismo com funções deliberativas, o objetivo era a criação de espaços intermunicipais e multipartidários onde os temas metropolitanos pudessem ser levantados, debatidos e endereçados às esferas e instâncias responsáveis. A adesão de cada Câmara seria feita através de ato próprio regimental da Casa Legislativa. A sede seria itinerante e instalada em caráter transitório na Casa Legislativa que estivesse na Presidência do parlamento. Sem desvio das funções constitucionais clássicas e autônomas de cada Câmara de Vereadores integrante, de legislar e fiscalizar o cumprimento das funções do Executivo, mas também sem ultrapassar suas respectivas jurisdições, os parlamentos metropolitanos poderiam cumprir, na escala metropolitana, um papel primordial na integração das agendas de municípios que tivessem interdependência, complementaridade ou oportunidades a explorar juntamente com os seus vizinhos da região.
Os parlamentos metropolitanos hoje no Brasil, apesar de incipientes, são um fato político digno de registro. Na região metropolitana de Natal-RN verifica-se a iniciativa talvez mais antiga, de 2001, com a adesão de oito municípios e apoiada em um Tratado Metropolitano e outros atos que norteiam o seu funcionamento. Esse parlamento logrou conseguir assento no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano, criado no âmbito do governo do Estado do Rio Grande do Norte, buscando fortalecer os canais de representação legislativa na formulação e implementação das políticas de governo. Em Campinas-SP, o parlamento formado por representantes das Câmaras Municipais dos 19 municípios da região metropolitana vem tendo uma participação ativa no encaminhamento dos problemas e das soluções relacionadas ao destino final do lixo. Essa preocupação é extensiva ao tema ambiental como um todo, tendo como perspectiva ganhos econômicos e sociais para a população e os municípios. Na região metropolitana do Recife-PE, o parlamento foi criado com a adesão das 14 casas legislativas e apoio da União dos Vereadores de Pernambuco e do Governo do Estado. Nas regiões de Curitiba-PR e de Florianópolis-SC, a iniciativa é nova, mas inspirada pelo mesmo princípio da cooperação entre osmunicípios para a resolução de problemas comuns.
Os temas que animam a criação e o funcionamento desses parlamentos refletem pendências, demandas sociais legítimas ou oportunidades de contexto verificadas em cada região, que vão bater à porta também dos Legislativos Municipais, mesmo que o assunto seja da competência das outras esferas de governo. Incluem-se aí assuntos tão diversos quanto integração ou unificação de tarifas telefônicas e de transportes; saneamento urbano, envolvendo questões de macrodrenagem, abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino final de resíduos sólidos; cultura e uso do solo.
A criação desses parlamentos pode estar refletindo uma agenda metropolitana indecisa ou mesmo ausente de Assembléias Legislativas e Executivos Estaduais, a quem a própria Constituição Federal atribuiu competência tímida no assunto. É fácil compreender também que um dos atrativos nesses parlamentos é a circulação regional de trajetórias políticas locais.
Outra forma de atuação, não propriamente dos Legislativos, mas dos seus parlamentares, como eleitos do povo, pode ser a sua convocação para colaborar em fronts parlamentares na escala metropolitana. Na experiência do Grande ABC paulista, além do Conselho Fiscal do Consórcio ter sido formado por membros indicados pelas Câmaras de Vereadores de cada município, os deputados estaduais e federais eleitos com forte apoio do voto metropolitano foram chamados a representar os interesses regionais e servir de canais ou mediadores no encaminhamento de pleitos, não só no âmbito dos Legislativos onde exerciam seus mandatos, como também dos Executivos. Nesta perspectiva, pode-se apresentar destaques metropolitanos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias das esferas de governo que possam contemplar a agenda intermunicipal. Resta ainda saber se nesses espaços parlamentares instituídos e consagrados para o exercício da democracia representativa haveria oportunidade para incorporar a democracia participativa.
Agrupando bandeiras na escala metropolitana para unificar agendas sociais
A rede urbana brasileira veio assumindo, ao longo dos séculos e, sobretudo, no século XX, um tal padrão geográfico que fez das regiões metropolitanas lugares onde se concentram, em intensidade e complexidade, as maiores demandas sociais do país. As luzes da metrópole sempre prometeram à maioria muito mais do que o Estado e a sociedade estiveram dispostos e foram capazes de dar. Os fortes impulsos migratórios que se tornaram mais expressivos na organização interna das metrópoles, sobretudo, nos anos de 1950 a 1970, carregaram a agenda pública com pendências que se acumularam como herança para os tempos atuais, até mesmo porque no mundo da política ainda precisa vingar um projeto nacional vigorosamente inclusivo que possa reverter o quadro atual. Por outro lado, nas áreas centrais das grandes regiões metropolitanas, notadamente nas capitais ou cidades-pólo, o incremento do valor da terra, aliado ao controle cada vez mais eficaz da ocupação do solo urbano por quem pode fazê-lo, induziu a periferização das oportunidades de localização residencial dos mais pobres. Manteve-se, entretanto, em grande parte, uma forte dependência desses moradores da periferia de empregos e serviços que as cidades-pólo puderam continuar a oferecer. Exacerbaram-se também as imensas deseconomias provocadas, sobretudo, por níveis muito débeis de mobilidade, altos índices de degradação ambiental e baixo nível de investimento na promoção da pessoa humana.
Nesse processo, as dinâmicas incidentes no território metropolitano tendem a dirigir as externalidades positivas para as áreas centrais enquanto drenam as negativas para as áreas periféricas. Isso faz com que os municípios metropolitanos onde se concentram as maiores demandas sociais, sabidamente com forte apelo ao investimento subsidiado, costumam ser os de menor capacidade de resposta a elas.
Tudo isso quer dizer que só na escala metropolitana as grandes bandeiras sociais podem assumir sua real expressão, devendo ser agrupadas para favorecer a percepção necessária de questões que demandam enfoques cruzados e escala adequada. Isso ajudará a evitar ações setoriais que não dialogam com o resto da pauta do governo e da sociedade.
O tema ambiental, por exemplo, deve estar hoje visceralmente associado ao tema da pobreza, apesar de não podermos imputar aos pobres a responsabilidade pela situação do meio ambiente no planeta. Ocorre que, não faz muito tempo, como não dávamos muito valor aos ativos ambientais, os pobres, excluídos do mercado imobiliário formal e das prioridades da agenda pública, puderam se abrigar nas reservas verdes urbanas, áreas de mananciais, margens de rios, lagoas, igarapés, manguezais e grotões com claro apelo à preservação. Com o agravamento da questão ambiental, o tema da pobreza teve que inevitavelmente voltar ao debate do planejamento urbano, protagonizando-se então nas manchetes dos jornais uma espécie de combate dos esquecidos. Vale lembrar que, na cidade do Rio de Janeiro, o carnaval é produzido principalmente nas favelas, muitas delas cravadas na ainda maior floresta urbana do mundo. A associação entre meio ambiente e pobreza na escala metropolitana justifica-se pela tendência à expulsão progressiva dos pobres para a periferia, indo, muitas das vezes, comprometer mananciais, áreas verdes e bacias hidrográficas que se estendem a municípios vizinhos.
No tema das políticas afirmativas, outra questão importante é que se os indicadores sociais apontam um forte padrão de femininização da pobreza e se as grandes bacias de pobreza tendem a se concentrar nas periferias, isto quer dizer que para empunhar em massa a bandeira do gênero é preciso empunhar também as bandeiras contra a pobreza e a favor da requalificação das periferias metropolitanas. Só assim seria possível promover um empoderamento feminino em massa e de baixo para cima das classes sociais, promovendo a afirmação e a liberdade de um maior número de mulheres e combatendo simultaneamente outras injustiças sociais.
Outra associação necessária deve ser feita entre os meios de transportes e as localizações habitacionais, aliás, um tema clássico dos urbanistas. O eminente geógrafo brasileiro Milton Santos associava os pobres à lentidão, numa alusão filosófica às suas dificuldades de mover-se num mundo que exige rapidez de quem quer e pode alcançar o que os avanços civilizatórios nos põem hoje à disposição. De fato, traduzido isto para o cotidiano das metrópoles brasileiras, nada constitui uma barreira maior para a realização da vida do cidadão metropolitano do que a sua dificuldade de mobilidade. Melhorar a mobilidade desses homens (e mulheres) lentos exige, entre outras coisas, integrar as políticas de transportes públicos com as políticas de habitação popular. Em muitas regiões metropolitanas brasileiras, há oportunidades excepcionais para agrupar essas duas bandeiras. Só para citar um caso, basta observar as vantagens de reconversão residencial e urbanística de áreas lindeiras às linhas férreas urbanas, muitas delas ociosas e em franco estado de indigência urbanística, que interligam municípios metropolitanos.
Finalmente, cabe realizar uma leitura metropolitana do Estatuto da Cidade para poder explorar necessidades e oportunidades de integração de políticas entre municípios vizinhos que contemplem a aplicação simultânea, combinada ou mesmo intercambiável entre municípios, onde e quando for o caso, de instrumentos instituídos pela Lei Federal 10.257/2001.
As organizações voltadas para a questão metropolitana
No Brasil e no exterior o tema metropolitano, pela sua importância estratégica, inspira a criação de organizações voltadas para o estudo, a pesquisa, o intercâmbio de experiências, a representação institucional e a ação política coordenada onde quer que o assunto se manifeste.
No Brasil, o Fórum Nacional das Entidades Metropolitanas realizou um trabalho mais intenso e sistemático nos anos de 1990, entrando depois em uma fase de quase recesso. No âmbito federal, o tema metropolitano é tratado como questão federativa. De fato, o assunto envolve articulação federativa7, através da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República; ações executivas de investimentos, através do Ministério das Cidades e; estudos e pesquisas, especialmente através do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)8. No Conselho Nacional das Cidades, o assunto tem estado em pauta, mas sem chegar a inspirar um programa de governo, até mesmo porque ações difusas poderiam ser mais eficazes no contexto atual.
No âmbito internacional, há a Associação Mundial das Grandes Metrópoles (Metrópolis) que, através da adesão voluntária, congrega, há cerca de vinte anos, sobretudo, capitais de países, de estados e províncias, inclusive do Brasil. Um novo protagonismo da periferia fez surgir, entretanto, em Nanterre, na França, o Fórum Mundial das Autoridades Locais Periféricas, reunindo cidades das periferias metropolitanas da Europa e da América Latina interessadas em debater e construir um novo modelo de relação com as cidades centrais que as polarizam. O aparecimento desse fórum é sintomático num período de florescimento da democracia participativa e de resistência a uma ordem global que aprofunda as desigualdades sociais e territoriais em todo o mundo.
Conclusão
A questão metropolitana não emerge como um desafio de gestão pública pela simples dificuldade de articulação e de convivência horizontal pacífica entre os municípios, tampouco por simples desajustes na ordem federativa do país. Esta é, sem dúvida, uma questão relevante, mas fosse esta a questão chave, bastaria formarmos supermunicípios, através da reunificação dos atuais municípios metropolitanos e transformá-los em “metrópoles-estado”, facilitando o comando político unificado, horizontal e vertical, dos assuntos de interesse comum da região. Afinal, é fácil observar problemas tipicamente metropolitanos na escala interna de cada um dos próprios municípios. Mas não se advogaria também o desmembramento indiscriminado dos atuais territórios municipais em infinitas unidades político-administrativas, apesar dos desmembramentos costumarem ser justificados pela falta de atenção e de investimentos nas frações de territórios que acabaram se emancipando.
Os problemas metropolitanos não são decorrentes também, pura e simplesmente, como querem alguns, da falta de planejamento. A questão é qual o objeto do planejamento, ou planejar o quê e para quem? Afinal, é fácil perceber como os serviços urbanos autofinanciáveis e de alta liquidez de retorno do investimento, como os transportes coletivos por ônibus, costumam se expandir com mais rapidez do que serviços subsidiados, como os de saúde, onde não há retorno financeiro direto, seja para o setor público, seja para o setor privado. O desafio da gestão metropolitana está também na assunção das grandes pautas sociais.
Para isso, a união motivada só pela festa ou a catástrofe é insuficiente e pode até mesmo encobrir omissões inconfessáveis sobre responsabilidades assumidas em mandatos políticos diante do ordenamento constitucional do país. O que se espera é uma ação sistemática voltada para as grandes causas sociais que, nas regiões metropolitanas, mais do que em qualquer outro lugar do país, se expressam sem necessidade de retoques.
Ignorar os vizinhos implicaria fazer uma aposta no “deixa estar”, contando com um tempo político que, sempre esgarçado, vai conformando espaços de vida coletiva de produtividade econômica cada vez mais baixa e de sociabilidade cada vez mais restrita. Talvez, por isso, o nosso carnaval metropolitano expresse tão bem a engenhosidade econômica e a vontade contagiante de comunhão, mesmo que efêmera, que, assumidas a sério no cotidiano, poderiam inspirar uma maior pressão de demandas sobre os governos e, quem sabe, uma radicalização da democracia e de sua expressão social sobre o território. O Carnaval é também um projeto permanente, enquanto os projetos de governo costumam mudar a cada mandato de quatro anos.
De qualquer modo, é próprio dos vizinhos se estranharem da mesma forma que são capazes de celebrar a festa. Afinal, a despeito da dura realidade do cotidiano nas metrópoles brasileiras, no país do carnaval é isto que faz bailar fevereiro com os pés e o coração da fratria metropolitana.
1Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro
2Estudo encomendado pelo SEBRAE-RJ, aponta um movimento de cerca de R$ 1 bilhão por ano gerado pelo carnaval na economia regional do Rio de Janeiro.
3LOPES, Alberto Costa. Gestão metropolitana no Brasil: da coerção simétrica, ao voluntarismo sem modelo, em busca da responsabilidade política com resultados. IN SILVA, Cátia Antônia da, FREIRE, Désirée Guichard, OLIVEIRA, Floriano José Godinho (orgs.). Metrópole: governo, sociedade e território. Rio de Janeiro: DP&A: FAPERJ, 2006, p. 137-155. (Coleção Espaços do Desenvolvimento).
4No âmbito do Governo Federal, foi criado o projeto de Mapeamento Ativo da Participação da Sociedade (Projeto MAPAS), apoiado em uma rede de organizações e voltado para o acompanhamento e a avaliação das experiências participativas estimuladas como política pública.
5Ver TREVAS, Vicente Y Plá. A lei dos consórcios públicos como um novo instrumento de fortalecimento da federação brasileira. Revista de Administração Municipal Municípios. Rio de Janeiro, IBAM, Ano 50, nº 254, julho/agosto de 2005, p. 7-14.
6FONTES, Angela Maria M., LOPES, Alberto Costa, ALMEIDA, Patrícia (coords.). Subsídios para o desenvolvimento institucional e a gestão do espaço metropolitano do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, IBAM/CPU, 1995. 7v.
7Foi criado um Comitê de Articulação Federativa.
8Nos estudos e pesquisas, fora da estrutura direta do Governo, ver também, o trabalho da rede de instituições do Observatório das Metrópoles, para o caso brasileiro. Para o caso europeu, há pesquisas realizadas pelo Instituto de Estudos Regionais e Metropolitanos de Barcelona.
Publicado como Artigo Anual no Relatório de Atividades, IBAM, 2005.