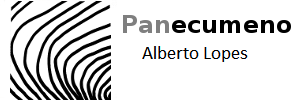Houve um tempo em que o meio ambiente era mais inteiro. Houve um tempo também em que os pobres não eram assim tão pobres. Naquele tempo, o meio ambiente e os pobres ainda não haviam se tornado personagens centrais do debate público sobre a vida na cidade, que crescia tratando-os como apêndices ou peças de um jogo adiado.
Enquanto isso os pobres cumpriam a sua saga, por um lado, condenados pela Lei da Gravidade a ocuparem algum lugar no espaço e, por outro, condenados à exclusão territorial por uma lei clássica da economia que, aplicada ao mercado imobiliário, seleciona quem pode ou não pode entrar na cidadela urbana formal. A relativa abundância e marginalidade econômica dos recursos naturais tornava-os desvalorizados e, já que não valiam muito mesmo, não importava a sua apropriação, mesmo que precária, pelos pobres. Esquecidos das políticas sociais, os pobres acabaram por ocupar os lugares esquecidos da geografia da cidade. E demorou para que as favelas e os elementos da natureza deixassem de ser apenas manchas nos mapas das cidades, passando a fazer sentido para a representação cartográfica da geografia urbana.
Mas a valorização imobiliária acompanhou o imaginário e o juízo de valor que fazíamos sobre a natureza e a paisagem. Assim, os pobres foram se tornando um empecilho numa certa geografia urbana e o seu combate com o meio ambiente foi se tornando comum nas cidades brasileiras. Em Maceió, esse combate se instalou nos grotões com vocação ambiental; em Boa Vista, nas pequenas lagoas sujeitas a inundações; em Porto Velho, nas barrancas do Rio Madeira; em Macapá, nas ressacas do Rio Amazonas ocupadas por casebres; em Manaus, nos igarapés ocupados por palafitas; no Recife, nas ribeiras e manguezais ocupados pelos mocambos; em Salvador, nos alagados da Baia de Todos os Santos; no Rio de Janeiro, nas encostas de florestas por onde foram subindo as favelas; em São Paulo, nas áreas de mananciais ocupadas por assentamentos irregulares; em Curitiba, nas margens dos cursos d´água na fronteira com outros municípios.
Dessa estranha modelagem urbanística não escapou nem Brasília, onde o combate se estabeleceu nas margens do Lago Paranoá, de onde uma favela acabou sendo removida. Pelo país afora também foi se tornando comum a presença de favelas nos lixões, que celebrizaram a figura dos catadores a nos dar as primeiras lições de reciclagem, cuja bandeira a classe média e o mundo empresarial hoje empunham com entusiasmo. Da reciclagem passamos à logística reversa.
Em muitas cidades brasileiras esse combate produziu batalhas históricas e são as áreas nobres que despertam o debate sobre a remoção. O histórico prédio de 11 andares erguido na favela da Rocinha reanimou a palavra de ordem do Basta! Afinal não se tratava mais de uma ocupação de quem buscava resolver por conta própria o seu problema de moradia, mas da narcoindústria imobiliária em expansão.
O desafio parece diabólico, pois não há muitas saídas para as favelas brasileiras. O aprendizado político, profissional e popular hoje sobre o assunto é grande e consistente. Os discursos fáceis ou tendenciosos, absolutamente pró ou contra a remoção ou a permanência das favelas em qualquer caso, não se sustentam. Remoções irrestritas seriam um rastilho de pólvora de desdobramentos imprevisíveis. Afinal, teria a famosa Cidade de Deus, construída no Rio de Janeiro para abrigar população ex-favelada, se tornado de fato um lugar divino? Por outro lado, não se pode ignorar o fato urbanístico e social em que se transformaram as favelas.
Dito isto, é preciso apostar na combinação de políticas para um armistício que possa reverter as tendências atuais. O simples crescimento vegetativo da população, num quadro de persistência dos fatores indutores da pobreza, por si só, tenderá a pressionar o crescimento das favelas. Um desadensamento cirúrgico de algumas delas, a partir de metas de densidade, poderia ser bem-vindo, mediante transferências negociadas, caso a caso, com alguns moradores, não necessariamente para soluções do tipo “conjuntos”. Esse desadensamento teria que ser imediatamente sucedido por novos espaços públicos, melhorias habitacionais, saneamento, acessibilidade, arborização, equipamentos sociais e investimentos diretos nas pessoas. Nos morros cariocas, esse cenário futuro poderia lembrar o atual Morro da Conceição ou mesmo o bairro de Alfama, em Lisboa.
A permanência dos governos nesses lugares poderia melhorar a sociabilidade. O retorno da natureza poderia melhorar a qualidade do ambiente urbano e, em cidades como o Rio de janeiro, contribuir para afirmar um discurso de identidade ambiental que poucas cidades no mundo podem fazer.
Por fim, só o Carnaval é capaz de revelar a energia produtiva represada nas favelas e jamais intuída para tornar a vida das comunidades algo que vá além do orgulho sofrido com a sobrevivência cotidiana e além das comemorações de ocasião. É no Carnaval também que o Sambódromo se torna um Rio de gente, inclusive de alguns detratores das favelas. Mas isto é outra história, pois, nessa hora, o que vale mesmo a pena é ver o enredo de uma escola de samba exaltar a natureza.
Publicado na Seção de Opinião do Jornal do Commercio, de 17 de Abril de 2006, p. A-15.