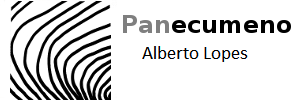INTRODUÇÃO
Houve um sábado de Aleluia, na década de 1970, em que moradores de um bairro do Município de Nova Iguaçu, supostamente cristãos, malharam como Judas um ex-Prefeito do Município do Rio de Janeiro. À parte as questões de ordem religiosa implicadas nessa tradição da Semana Santa no Brasil, a notícia do jornal poderia indicar apenas mais um fato curioso sobre a vida daqueles que, vivendo indiferentes às fronteiras político-administrativas entre municípios vizinhos de uma grande aglomeração metropolitana, expressam a sua indignação com as enormes limitações dos meios de vida a que são submetidos no dia a dia.
A malhação do Judas do Prefeito do Rio de Janeiro era, na verdade, um equívoco ou parecia ter endereço errado. Os moradores, alheios ou ironicamente atentos às competências formais a respeito do seu chão, naquela tênue e esquecida fronteira entre os municípios, pensavam talvez estar aplicando um castigo simbolicamente merecido a quem seria, para eles, o responsável pelo provimento de meios e facilidades básicas para a sua sobrevivência.
Era um período de centralismo político em que, apesar da importância de Nova Iguaçu, então o oitavo município mais populoso do Brasil, quem estava em evidência e era mesmo o crupiê do jogo metropolitano, era o Prefeito da capital do estado. Na época, as grandes metrópoles do país estavam sob foco de atenção especial na distribuição das receitas e na aplicação de investimentos pesados do Governo Federal, cujo mandatário máximo indicava o Governador do Estado, que por sua vez indicava o Prefeito da capital para o cargo. Em torno dessas grandes cidades, o “resto” era a “periferia”. Naquela época, um famoso colunista social carioca acabou consagrando o estigma numa frase, acrescentando sempre antes da palavra periferia a expressão inglesa sorry, para se referir a quem não tinha acesso ao que considerava o melhor da vida social. Periferia não seria necessariamente aquilo que estava geograficamente longe do centro, senão longe do centro do poder.
É fácil imaginar os motivos daquela manifestação da periferia. É sabido que ao menos uma pauta básica de problemas frequenta, há décadas, suas listas de reivindicações: condições de habitação, saneamento básico, abastecimento, alternativas de trabalho, transportes para os seus diversos tipos de deslocamentos, serviços de educação e saúde e condições gerais de salubridade, amenidades e lazer. Para além de suas necessidades imediatas, os moradores teriam também um projeto futuro de mais longo prazo, intuindo, quem sabe, um imaginário mais elaborado sobre o que desejariam que fosse a vida na metrópole. Nisto não estariam sós. A metrópole é um espaço de confluência e de combate entre projetos pessoais e coletivos, movidos por uma enorme complexidade de sujeitos sociais.
Como, porém, suas demandas não se expressam apenas no seu local de moradia, atendê-las implica em assumir a cidadania como uma condição ou um atributo mais associado ao seu corpo móvel do que ao seu endereço fixo. Onde quer que vá o cidadão metropolitano em seus deslocamentos diários, em um espaço fracionado por limites municipais, fronteiras e domínios, haverá sempre algo a demandar de alguém que não elegeu ou para quem não paga tributos diretos.
DE VOLTA AO CONCEITO DE ESPAÇO METROPOLITANO
O conceito de espaço metropolitano já foi abordado em trabalho anterior1. No entanto, retomar essa conceituação, mesmo que de forma bastante resumida, é muito útil para tentar precisar a natureza das questões implicadas na gestão metropolitana. Dito de outra forma, para encontrar a melhor resposta é preciso antes encontrar a melhor pergunta.
O espaço é constituído por materialidade física (natureza mais obra humana) e processo social (político, administrativo, econômico, cultural). É constituído também por dinâmicas do meio ecológico (natural e construído) e dinâmicas dos sujeitos sociais, por estruturas e movimentos, por coisas fixas e fluxos. O que é específico do espaço metropolitano é que esse conjunto complexo e interagente de elementos guarda uma interdependência mais estreita, sistemática e cotidiana manifesta de forma concentrada em uma determinada parte do território, onde muitos fenômenos geográficos urbanos ocorrem em escalas que não correspondem à escala de competência ou de atuação dos sujeitos sociais capazes de geri-los.
Os mananciais de água estão em poucos municípios, mas abastecem a vários. O escoamento dos esgotos segue a conformação das bacias hidrográficas e não divisões político-administrativas formais. Os locais mais recomendados e disponíveis para a disposição dos resíduos sólidos estão em lugares muito restritos de poucos municípios. Os usuários dos serviços de um município moram ou trabalham, em grande parte, em outros municípios, utilizando-se de bacias e modalidades de transportes reguladas e operadas por diferentes agentes e esferas de governo. O fato metropolitano se expressa assim pela interdependência sistêmica de funcionamento do conjunto, formado por uma conurbação de vários municípios ou, como definem alguns, por uma cidade-região.
Ocorre que cada subespaço metropolitano é atingido de modo desigual pelo metabolismo do conjunto, reforçando a heterogeneidade interna e a formação de subconjuntos, envolvendo alguns municípios, submetidos a dinâmicas próprias. Assim, cada fenômeno em foco para a análise (ou para a gestão) tenderá a corresponder a uma subregião metropolitana. Em alguns casos, os territórios dos municípios incluídos na região metropolitana oficial não serão suficientes para açambarcar toda a espacialidade dos fenômenos. Em outros, a trama de relações envolvidas será tão difusa e extensa (caso de muitos fenômenos econômicos e comunicacionais contemporâneos) que valerá a pena considerá-la mas não tentar mapeá-la.
Ao fim e ao cabo, tanto os cidadãos, quanto as formas de representação ou atuação dos sujeitos sociais (governos, empresas, organizações, instituições, associações, redes), têm de lidar com limites e desafios para transposição de diversos tipos de fronteiras dentro das regiões metropolitanas para atuarem. As empresas, não limitadas às fronteiras político-administrativas dos governos, podem organizar e expandir seus negócios, suas instalações produtivas e seus mercados de modo bem mais flexível2. Quanto às redes sociais, conforme observou Rose Marie Inojosa (Informativo CEPAM, p. 188) “podem estender-se pelo espaço geográfico alcançado pelos parceiros ou focalizar um grupo populacional, quer por critério geográfico, quer por outros critérios, como renda, gênero, faixa etária, condição de vulnerabilidade”. Essas redes são capazes de atuar com grande capilaridade geográfica e muito próximas da esfera de vida e das necessidades particulares dos cidadãos. Preenchem, portanto, uma função importante no processo social, estabelecendo conexões, domínios e compromissos que se definem não por limites territoriais fixos, como no caso dos municípios, mas pelo vivo interesse em gerar resultados onde quer que se manifestem demandas a serem atendidas ou potencialidades a serem mobilizadas.
As fronteiras intermunicipais são assim apenas umas das fronteiras intrametropolitanas. São decisivas, pelo fato dos municípios terem competências concentradas na provisão de serviços, meios e facilidades básicas e imediatas da população. Somente a título de especulação, até mesmo para não afrontar os municipalistas mais empedernidos, a retirada das linhas divisórias entre os municípios do mapa metropolitano faria surgir um supermunicípio, mas talvez insuficiente para resolver todos os desafios da gestão3. Vale observar que iniciativas de emancipação de municípios, mesmo dentro de regiões metropolitanas, costumam ser justificadas pela falta de atenção e de investimentos do município de origem com as áreas objeto de emancipação.
Como outro exemplo, também polêmico, agora na esfera dos negócios privados, imaginemos um cenário em que a atividade bancária fosse regionalizada no Brasil, com critérios e limites territoriais para aplicação dos depósitos feitos nas agências no mesmo âmbito territorial onde houvessem sido captados. Assim ocorre, mais ou menos, com as esferas governamentais que tem que orientar seus investimentos para dentro da sua própria circunscrição territorial, sem muita flexibilidade para fazê-lo fora dela. Diante da organização, da distribuição territorial e dos padrões de movimentação financeira da rede bancária atual, quem e que lugares ganhariam ou perderiam em função de algumas novas regras que pudessem ser preconizadas para essa regionalização? Seria possível e conveniente redirecionar os recursos movimentados pelo sistema bancário a favor de um novo projeto não só metropolitano mas nacional, com forte componente territorial?
DOS SERVIÇOS ÀS FUNÇÕES E A UM PROJETO METROPOLITANO DE INTERESSE COMUM: A GESTÃO METROPOLITANA SEM MODELO
É importante observar como o esgotamento do modelo único e simétrico de gestão metropolitana implantado em meados da década de 1970 no Brasil permitiu adaptações e mesmo o surgimento de experiências, em muitos aspectos, contrárias ao formalismo do passado.
Um olhar atento sobre as experiências mais recentes de gestão metropolitana no Brasil mostra que o empreendedorismo e as alianças programáticas em torno de oportunidades e resultados efetivos para as partes envolvidas é que têm garantido a consolidação e a credibilidade do processo. A primeira questão a resolver, portanto, é justamente sobre o objeto (ou os objetos) da gestão. A noção antiga de “serviços” de interesse comum, pode-se dizer desde já, é limitada em relação à noção de “funções”, conforme define o texto constitucional no seu artigo 25. O que interessa não são somente os serviços. Tampouco o interesse dos municípios em torno de todos os serviços costuma ser efetivamente comum. Cada sistema urbano (água, transporte, drenagem, saúde) se espacializa de modo diferente dos demais, exigindo alternativas institucionais também diferentes, seja do ponto de vista dos Municípios mais envolvidos com o problema, seja do ponto de vista dos agentes e mecanismos de gestão implicados. Isto quer dizer que nem todo problema metropolitano é um problema de todo município metropolitano (Lopes, 1996).
Boas experiências de gestão conjunta ou compartilhada de assuntos urbanos entre municípios vizinhos no Brasil começaram a partir de esforços temáticos, emergenciais ou de oportunidade. A gestão de bacias hidrográficas, por exemplo, mostrou-se com um enorme poder de arraste para catalisar e consolidar interesses comuns em algumas regiões. Sendo a água um bem essencial e de interesse universal para a sobrevivência de todos, não foi difícil o tema se impor como prioridade e como capaz de superar imobilismos e desconfianças mútuas arraigadas. Mais do que prestar o “serviço” de água, o desafio de gestão das bacias hidrográficas implica em garantir sustentabilidade ao próprio recurso natural, gerando compromissos a serem compartilhados por todos, muito além da operação técnica e financeira da rede do serviço.
Essas experiências autônomas em algumas regiões puderam gerar resultados práticos em prazos relativamente curtos, dando credibilidade aos esforços conjuntos e estabelecendo bases de confiabilidade para o enfrentamento de outros desafios. A região do chamado Grande ABC paulista guarda um pouco desse histórico (ver Câmara do Grande ABC, s.d. e Klink, 2001). Trata-se, na verdade, de uma forte conurbação incluindo sete municípios intensamente urbanizados que, por sua vez, formam uma subregião da Região Metropolitana de São Paulo, a maior do país. Alí foram criadas uma Câmara, sem personalidade jurídica, que funciona na sede do Consórcio Intermunicipal que lhe garante apoio administrativo e tem como braço institucional uma Agência de Desenvolvimento Econômico. Dela participam as sete prefeituras, presidentes das câmaras de vereadores, deputados estaduais e federais eleitos pela região, um Fórum da Cidadania (que engloba 102 entidades da sociedade civil) e representantes de empresários e trabalhadores.
A bancada de deputados pode constituir um vetor externo capaz de dar bom trânsito aos interesses regionais nos fronts parlamentares da capital do estado e de Brasília. Para uma região com os múltiplos vínculos externos, como o Grande ABC paulista, esse trabalho suprapartidário pode ser estratégico. A convocação dessa bancada parlamentar para o esforço de construção de um projeto regional, aponta, quem sabe, para o debate ainda tímido que se trava no país a respeito do voto distrital.
É claro que o fato da região ser uma das mais expressivas, do ponto de vista econômico, para o país, lhe garante condições especiais de articulação e investimento. No entanto, uma das fortes motivações para a experiência em curso, e com grandes desafios políticos e sociais, foi a reestruturação produtiva exigida da região pelo cenário global. A saída, por um lado, está sendo calcada em um forte vínculo da região com essa nova economia global, como aponta o Plano Estratégico Regional em implementação. Por outro, buscariam construir, pouco a pouco, uma base interna sólida de resistência aos impactos negativos de uma possível reversão da frágil inserção do país na economia global, da qual o Grande ABC paulista constitui um elo privilegiado.
No Médio Vale do Itajaí, em Santa Catarina, a força empreendedora da atividade empresarial, regulada pelo interesse público e com ampla participação de instituições e entidades particulares, tem logrado imprimir novas dinâmicas ao desenvolvimento regional. Em todo o vale, além das tradicionais associações catarinenses de municípios, fóruns de desenvolvimento regionais surgiram e, no caso da região de Blumenau, se dispõem de forma complementar à estrutura de gestão metropolitana proposta pelo Estado de Santa Catarina através de lei complementar de 1998. Cabe observar ainda que as grandes enchentes ocorridas na região nas últimas décadas, atingindo vários municípios do vale, constituíram um fator agregador adicional da solidariedade interna da região, pelo menos para uma pauta específica de assuntos de interesse comum. As lições, no caso, vieram da catástrofe.
A flexibilidade encontrada nos formatos institucionais observados nessas experiências atuais responde à avaliação dos resultados do passado. O que se sabe, é que as formas jurídicas e institucionais de constituição das entidades metropolitanas instituídas no passado, por si só, não se mostraram decisivas para explicar o desempenho da gestão em cada região (Lopes, 1996, p. 81).
O que mudou, para que novos formatos e um novo protagonismo metropolitano se instaurasse e ganhasse fôlego? Ampliou-se a autonomia municipal num novo ciclo municipalista. A esfera federal de governo recolheu-se na definição de normas gerais e de políticas urbanas sem lastro nem compromisso para financiá-las. A esfera estadual, em face da competência constitucional limitada que lhe foi atribuída no assunto, parece viver uma crise de identidade em relação ao tema metropolitano. Houve um crescimento demográfico maior e o fortalecimento relativo do espaço econômico de alguns municípios metropolitanos que não a cidade principal. Houve mesmo, em alguns casos, uma notável expansão dos negócios e empreendimentos privados identificados com novas centralidades surgidas nas periferias. O desafio da competitividade global, traduzido também numa competição entre lugares, fez ressurgir regionalismos que, no caso das áreas metropolitanas, podem ir buscar na união dos municípios escala mais adequada de articulação. Ampliaram-se muito, por outro lado, em quantidade e complexidade temática, as redes de organizações sociais atuando e imprimindo dinâmicas novas nas regiões metropolitanas.
Da experiência consolidada na gestão de serviços comuns que vem do passado, porém, ficam lições ainda válidas para o momento. Não se pode deixar de considerar, por exemplo, as economias de escala, externalidades econômicas e benefícios sociais que podem ser aproveitados na prestação integral de um serviço, ou parte dele, examinando-se alternativas de sua atribuição à esfera local, estadual, ao setor privado, consórcios ou mesmo soluções mistas. Pode ocorrer também que, no caso dos sistemas de abastecimento de água, por exemplo, a captação, adução e tratamento mereçam gerenciamento em escala acima da local (ou consorciada) atribuindo-se a distribuição aos municípios. O mesmo poderia ocorrer nos sistemas de gerenciamento de resíduos sólidos, nos quais o destino final pode ser mais vantajoso quando operado, com ganho de escala, a partir do tratamento conjunto dos resíduos de vários municípios.
No que diz respeito à gestão financeira, há que distinguir entre os serviços autofinanciáveis e aqueles que costumam ser prestados com base em fortes subsídios. Entre os autofinanciáveis, destacam-se os serviços públicos de transportes que, apesar da gratuidade para alguns grupos sociais, sempre estiveram na pauta da gestão metropolitana. Os chamados serviços sociais (de saúde, educação, cultura e assistência social) estariam entre os mais dependentes dos recursos governamentais. Talvez não por acaso, estiveram fora de um debate político mais preocupado em promover inclusão social a partir também de ações de caráter metropolitano4. Vale observar que os municípios metropolitanos mais pobres e com uma pequena massa tributável presente no seu território ficam financeiramente em desvantagem, pois costumam ser aqueles que justamente concentram as maiores demandas sociais, que acabam por pressionar os serviços das cidades mais desenvolvidas e equipadas.
Do ponto de vista técnico e tecnológico, a prestação dos serviços implica em buscar correspondência entre a complexidade requerida para a sua prestação e a capacidade de quem pode prestá-lo. É claro que essa capacidade pode ser fortalecida e aperfeiçoada, sobretudo pensando-se em desconcentrar a gestão para municípios com grandes desafios de fortalecimento institucional a vencer.
Os consórcios intermunicipais tem dado, ao longo das décadas, um grande impulso às experiências metropolitanas, como mecanismos auxiliares na resolução de assuntos comuns. Costumam ser criados para uma grandes variedade de propósitos, incluindo planejamento regional, otimização de recursos e investimentos, prestação de serviços e exercício de funções públicas de interesse comum. Os resultados mais evidentes dos consórcios, no entanto, têm sido a solução prática de serviços.
Não se pode evidentemente abandonar essas perspectivas. Ainda há muito o que melhorar na gestão dos serviços, sobretudo diante de um cenário de privatização. A noção de funções de interesse comum, no entanto, é mais abrangente do que a de serviços. Pode ser tomada com base não em definições prévias e imutáveis sobre a pauta a seguir, mas em prioridades e oportunidades de contexto que sirvam de elos programáticos entre as forças políticas mais expressivas do momento. Funções podem incluir intervenções físicas, gestão de redes técnicas de serviços e infra-estruturas, manejo de ecossistemas, planejamento, desenvolvimento de projetos econômicos, e mecanismos de ação política conjunta em prol do desenvolvimento regional.
O enfrentamento da questão metropolitana pode exigir ainda mudanças na percepção dos problemas e no encaminhamento de alternativas de possíveis soluções. Um ex-Prefeito de Maringá, no Paraná, defendia e, mais do que isso, fazia gestões para a implantação de serviços sociais de saúde e educação nos municípios de Sarandi, Marialva e Paiçandú, com quem integrava um consórcio metropolitano no início da década de 1990. O ato solidário do Prefeito com os seus pares consorciados buscava, na verdade, aliviar a forte pressão de demanda da população vizinha sobre os seus próprios serviços, abrindo caminho assim para um melhor atendimento dos seus próprios munícipes e eleitores, sem que se precisasse ampliar as redes do seu município. É claro que essa atitude do então Prefeito também lhe ampliava a escala política de ação, podendo render-lhe no futuro ganhos eleitorais para mandatos de outra escala e natureza, apoiado, não no voto local, mas no voto regional. De qualquer modo, essa iniciativa inusitada do Prefeito, diante das práticas políticas predominantes verificadas no país, pode apontar caminhos a seguir.
As boas experiências de gestão metropolitana ou regional têm exigido uma atitude de confiança mútua e de representação mais horizontal dos municípios envolvidos, seja na esfera decisória, seja na esfera da identidade com que se apresentam. No que diz respeito à esfera decisória, cobra-se pouco a pouco a formação de um ambiente político mais favorável ao diálogo e à ação conjunta entre Prefeitos. Isso é possível quando há projeto comum, compromisso, transparência, vantagens e compensações a serem compartilhadas. É claro que esse tipo de atitude ganha mais fluidez onde se desenvolvem redes políticas monopartidárias ou capazes de construir alianças programáticas de contexto. No âmbito dos consórcios, onde somente os entes governamentais estão representados, a cooperação intermunicipal é mais fácil de ser assumida. Ocorre que uma das limitações dos consórcios é justamente aliar os entes governamentais que assumiram a iniciativa da união sem a participação de outros agentes. Daí a necessidade de criação de organismos colegiados, de têm caráter mais político, do tipo fóruns e comitês, e de agências de desenvolvimento capazes de atuar sobre o dinamismo econômico da região.
Quanto à identidade, a nomeação das regiões metropolitanas a partir de referências a elementos geográficos de unidade para a região é sempre melhor do que pelo nome do município de maior visibilidade. Apesar da centralidade inquestionável de Santos em relação aos seus vizinhos, adotou-se o nome da sua região como da Baixada Santista. O ato de criação das regiões metropolitanas que incluem Blumenau e Joinville, no Estado de Santa Catarina, nomeou-as respectivamente como do Vale do Itajaí e do Norte/Nordeste Catarinense. Do mesmo modo, a região metropolitana do Rio de Janeiro poderia talvez ser nomeada como da Guanabara, em referência à baía do mesmo nome, e a de Porto Alegre como do Delta do Guaíba. Não se trata de mero sentimentalismo com as periferias contra estigmas consolidados no passado, mas de requalificá-las no imaginário social que as produzem e as consomem. Trata-se também de reconhecer potencialidades e conquistas alcançadas a partir de esforços autônomos de muitos municípios metropolitanos fora do eixo das maiores cidades.
UM OLHAR METROPOLITANO SOBRE O ESTATUTO DA CIDADE
O Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), no seu Capitulo I, estabeleceu um amplo repertório de diretrizes gerais da política urbana no Brasil. No plano das intenções, foi apontado um cenário tão generoso e promissor de princípios a nortear a política urbana no país que, assumidos pra valer, talvez dispensassem muito do restante da lei. Ali foram estabelecidos princípios de sustentabilidade, democracia, cooperação entre governos e entidades privadas, função social da propriedade, justiça social, etc. Para o tema metropolitano, cabe menção especial aos incisos IV e VII do artigo 2º. Em ambos os incisos são feitas referências a diretrizes voltadas para a integração, a complementaridade e o equilíbrio entre o Município e o “território sob sua área de influência”. O princípio se aplica justamente às áreas urbanas conurbadas e áreas rurais conexas. Da forma como os incisos estão redigidos, entretanto, tende a refletir apenas a centralidade da cidade mais dinâmica da região e não as influências recíprocas de fato verificadas entre todas elas.
O planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões foi mencionado no inciso II do artigo 4º do Estatuto como instrumento da política urbana. Uma interpretação mais formal e combinada dos incisos I, II e III desse artigo poderia levar a um entendimento sobre um possível (mas improvável) sistema nacional de planos articulados entre as diferentes esferas de governo. A autonomia das esferas de governo, no entanto, foi preservada. Vale observar que a competência atribuída aos estados para criar regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões não se associa à antiga tutela que tinham em décadas passadas sobre os municípios. Ou seja, apesar da importância dos estados federados na condução dos negócios públicos, também no âmbito metropolitano, não se preconizou uma volta à estadualização irrestrita do assunto. Mesmo que assim fosse, restariam alguns impasses a resolver no caso de aglomerações urbanas envolvendo cidades de mais de um estado, como, por exemplo, na região de Petrolina-PE e Juazeiro-BA.
Quanto aos demais instrumentos estabelecidos no artigo 4º do Estatuto (tributários e financeiros, jurídicos e políticos, além dos estudos prévios de impactos ambiental e de vizinhança), cabe observar que, no seu conjunto, poderiam oferecer amplas possibilidades para a sua aplicação simultânea em diferentes municípios metropolitanos. O objetivo seria buscar efeitos combinados no tempo e no espaço de políticas urbanas voltadas para regulação do mercado imobiliário, implementação de estratégias habitacionais, combate a vazios urbanos5, criação de unidades de conservação em faixas ou zonas contíguas de mais de um município, e assim por diante. Valeria ainda indagar, ou ousar propor para o debate futuro, se (e como) instrumentos, tais como a transferência do direito de construir e as operações urbanas consorciadas poderiam ser negociados entre mais de um município metropolitano.
No caso dos instrumentos tributários, o princípio da extrafiscalidade (ver o artigo 47 do Estatuto) aplicado através de políticas simultâneas em vários municípios, poderia induzir processos urbanos consensuados em escala metropolitana. No caso dos estudos prévios de impacto ambiental e de vizinhança, dependendo da localização e da natureza do caso considerado, poderão estar envolvidos territórios de mais de um município. Ocorre que as questões a serem incluídas na análise dos impactos de vizinhança, por exemplo, conforme definidas no artigo 37 do Estatuto (adensamento populacional, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, geração de tráfego e demanda por transporte público), costumam não reconhecer fronteiras político-administrativas formais, podendo gerar efeitos em cidades vizinhas.
No capítulo que trata da gestão democrática da cidade, o artigo 45 do Estatuto obriga a participação da população e de associações representativas nos organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, de modo a “garantir o controle direto de suas atividades e o pleno exercício da cidadania”.
Finalmente, o Estatuto da Cidade, no artigo 41, obriga a existência de plano diretor para “cidades”6 integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. Dado o propósito e a abrangência esperada desses planos, para os municípios metropolitanos torna-se indispensável a integração dos seus planos, naquilo que for pertinente.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A complexidade e a importância estratégica do fato metropolitano no Brasil não autorizam empreender a aventura da gestão sem um conhecimento minimamente consistente a respeito dos diferentes assuntos que podem estar implicados em cada região. Antes de tudo, é preciso explicitar o fato metropolitano ou como ele se manifesta em cada lugar. Isto exige identificar, quantificar e qualificar fluxos, movimentos, redes, interações e posições relativas significativas verificadas dentro da região, inclusive entre os municípios, a respeito de temas-chave. Esses temas podem já estar identificados e serem objeto da montagem de uma pauta preliminar de ação, não necessariamente em todos os municípios mas, se for o caso, em um subconjunto deles. É importante observar quem são e qual o nível de inserção dos agentes públicos (governamentais e não governamentais) e privados envolvidos nesses fenômenos.
De posse destes dados, valerá apontar deseconomias e debilidades a serem superadas na vida metropolitana, destacando-se impactos positivos a serem alcançados com o seu combate. Valerá também identificar benefícios e oportunidades que possam interessar a muitos. A contabilidade das perdas e ganhos deve ser deslocada da análise restrita de temas específicos ou, mais ainda, de um único município para análises mais globais, no tempo e no espaço, que ampliem a visão sobre o horizonte político, econômico, social e territorial dos resultados7.
Para muitos desses assuntos, e em muitas regiões, já há dados e informações substantivas disponíveis. O extraordinário desenvolvimento dos sistemas de informações geográficas permite processar e espacializar uma grande quantidade e qualidade desses dados. Com esses e outros recursos pode-se fazer simulações quanto a cenários e alternativas a serem implementadas. Basta dar-lhes um sentido prático em torno de compromissos práticos.
O tema metropolitano, no entanto, tem estado confinado no ambiente acadêmico, onde ganha fôlego e capacidade de instruir e alimentar um debate vigoroso e produtivo sobre as alternativas a seguir. A exposição e difusão desse precioso conhecimento para o público e os chamados formadores de opinião permitiria explicitar a natureza do fato metropolitano, às vezes de difícil percepção leiga, retirando-o dos ambientes especializados para dar-lhe vida no mundo real. O interesse da mídia pelo assunto poderia animar o debate e a ação política, não exclusivamente partidária, em torno da superação dos desafios metropolitanos atuais. Os efeitos demonstrativos de bons resultados alcançados em metas parciais, podem funcionar como bola de neve, estimulando o enfrentamento de novos desafios antes tidos como instransponíveis.
No entanto, não se deve encarar reflexões e propostas sobre as maneiras de atuar nas metrópoles sem mediação e ajustes para qualquer lugar em qualquer contexto. As generalizações são de uso muito limitado, em se tratando do fenômeno metropolitano brasileiro. São consideráveis, por exemplo, as diferenças de formação histórica, cultura política e associativista, estrutura fundiária, perfil da produção e do consumo, volume do PIB e incidência da pobreza nas diferentes regiões metropolitanas brasileiras. Somente como exemplo, as possibilidades de retorno de investimentos na expansão de redes de serviços, sobretudo os autofinanciáveis, na região de Curitiba são significativamente maiores do que na do Recife. Isto é decisivo para a expansão das redes de serviços metropolitanos8.
Há ainda temas, de certo modo, ainda pouco explorados para instruir a gestão metropolitana. Um tema aparentemente ignorado, mas que mereceria estudos atentos e provavelmente úteis para algumas saídas que possamos imaginar, diz respeito à geografia política das (e nas) regiões metropolitanas. No que diz respeito, por exemplo, ao voto eleitoral, observemos como os especialistas em planejamento de transportes fazem seus estudos de origem e destino, quantificando e qualificando as trocas de passageiros e suas linhas de desejo preferenciais para transposição das fronteiras intermunicipais. Valeria a pena adotar uma perspectiva semelhante para verificar a relação existente entre município de moradia e município de voto dos moradores das áreas metropolitanas. Dada a mobilidade populacional entre municípios metropolitanos sem que os cidadãos troquem necessariamente seus domicílios eleitorais, pesquisas de boca de urna sobre o assunto poderiam trazer elementos novos na busca de argumentação para acordos que promovessem equilíbrio e compensação entre vantagens e encargos no jogo metropolitano. Ou seja, qual será a efetiva força do voto, especialmente em áreas conurbadas, como instrumento de representação de projetos e compromissos esperados dos eleitos? Haveria, nesses casos, alternativa ao modelo atual? Como tratar o voto distrital no contexto metropolitano? Como, a partir de uma reflexão crítica proposta por Milton Santos, abrir caminhos para que os partidos atuem pra valer como partidos políticos e não como meros partidos eleitorais, que tendem a se satisfazer com os resultados quantitativos das eleições, em detrimento da sua expressão qualitativa no território.
Os temas econômicos e financeiros, pelo evidente valor estratégico no contexto atual, deveriam merecer estudos especiais, não só para instruir decisões mas também para servirem a avaliações de impacto sobre projetos e ações que vêm sendo executados no âmbito metropolitano. Esses estudos podem cobrir finanças municipais comparadas, viabilidade e desempenho econômico das redes de serviços e infra-estruturas urbanas e vantagens no fortalecimento e na expansão de cadeias produtivas apoiadas em negócios instalados em mais de um município metropolitano.
Experiências de planejamento estratégico regional, fundamentando seus postulados em uma visão marcadamente econômica, costumam interessar não somente ao setor privado mas também ao setor público, onde os municípios compartilhem encargos e vantagens. Essa parece ser a experiência do Plano Estratégico Regional do Grande ABC paulista. No exterior, para mencionar apenas exemplos latino-americanos que mereceriam ser avaliados, apesar das diferenças de contexto, vale citar os casos das regiões de Santiago do Chile e de Quito, no Equador9. Em Santiago, o Governo Regional Metropolitano, ligado diretamente ao Governo Central e incluindo seis províncias e cinquenta e duas comunas correspondentes aos municípios brasileiros, estabeleceu Estratégias de Desenvolvimento para o período 2000-2006. Em Quito, apesar das dificuldades representadas pelo contexto econômico atual do país, iniciou-se também, em 1998, uma experiência de elaboração de um Plano Estratégico Econômico e Social do Distrito Metropolitano da capital do país.
Seria também muito proveitoso estudar a organização, o desempenho e a geografia das múltiplas redes sociais operando nas regiões metropolitanas. A vantagem seria rastrear ações em curso a respeito de temas específicos e, quem sabe, novos que emergem não só como necessidades mas sobretudo como caminhos assumidos pela população sem distinção de fronteiras municipais. Os estudos de Regina Novaes sobre o tema da cultura e de novas formas de ação política da periferia metropolitana do Rio de Janeiro podem inspirar uma melhor compreensão da dinâmica e da espacialidade de fenômenos ligados à música, à moda e à violência, por exemplo, com amplas repercussões no plano econômico e das identidades. Nesse mesmo sentido, vale a pena observar os intricados processos comunicacionais pelos quais são atualmente providos e mantidos alguns meios e facilidades para a vida urbana das populações ou cidadãos mais pobres e vulneráveis10.
Um caminho auxiliar e seguro para o debate sobre prioridades ou sobre o quê gerir nas regiões metropolitanas, talvez possa ser buscado na argumentação precisa e instigante de Umberto Eco acerca dos “direitos da corporalidade alheia” ou das “concepções universais acerca da constrição” da pessoa humana (Eco, 1999, p. 88). Tudo aquilo que dissesse respeito à administração do corpo deveria estar assegurado por um estatuto universal e por políticas públicas que lhe promovessem amplamente. Fazendo-se um paralelo entre esse universo de garantias mínimas propostas por Eco e uma possível pauta metropolitana, teríamos a liberdade para falar (democracia e espaços para expressão política e cultural), ir onde se queira (acessibilidade e transporte), comer e beber (abastecimento e alimentação), condição social não segregada (combate à pobreza e todas as formas de estigma e exclusão social) e a salvo de tortura física e psíquica (prevenção contra todas as formas de privação e violência). Aí parecem se fundar princípios éticos fundamentais associados à democracia, ao bem estar e a um contrato social que promova a dignidade da pessoa humana.
Esses temas, num panorama de desafios para a construção de um projeto nacional, estão na raiz dos grandes problemas metropolitanos. Reconhecer também a pobreza como fator de debilidade e ameaça para o futuro das metrópoles brasileiras, constitui uma atitude alinhada não somente a uma ação humanitária mas também a um projeto de melhoria do desempenho macroeconômico do país.
Os cidadãos dessas enormes cidades-regiões, cristãos ou judeus, não importa, estarão sempre diante das necessidades imediatas do presente mas buscando vias de realização dos seus projetos no futuro. Para vencer os limites, fronteiras, domínios e barreiras do dia a dia, estarão escapando, muitas das vezes com astúcia e irreverência, dos discursos etéreos, da indiferença dos que podem decidir e das promessas fáceis sem compromisso. Estarão sempre apostando em um ativismo metropolitano de resultados.
BIBLIOGRAFIA
BRASIL. Instituto de Planejamento Econômico e Social. Instituto de Planejamento / Comissão Nacional de Regiões Metropolitanas e Política Urbana. Brasília. Região Metropolitana do Grande Rio: serviços de interesse comum. Brasília, IBAM/CPU, 1976, 264p. (Estudos para o Planejamento, 13).
CÂMARA DO GRANDE ABC. Câmara ABC: a região encontra soluções. Santo André, s.d., 42p.
ECO, Umberto. Cuando los demás entran en escena, nace la ética. ECO, Umberto & MARTÍN, Carlo Maria. ¿ En qué creen los que no creen ? Un diálogo sobre la ética en el fin del milenio. Santa Fé de Bogotá D.C. Planeta, 1999, p. 85-97.
FERREIRA DOS SANTOS, Carlos Nelson. As cidades enormes, ou como aprendi a gostar delas com o dr. Strangelove. São Paulo, Projeto, 110, mai. 1988, p. 111-114. (Cartas urbanas).
FISCHER, Tânia (org.). Gestão contemporânea: cidades estratégicas e organizações locais. 2 ed. Rio de Janeiro, FGV, 1997, 208p.
FUNDAÇÃO CIDE. Centro de Informações e Dados do Rio de Janeiro. Rio Urbano. Revista da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 1. Rio de Janeiro, Fundação CIDE, março 2002, 103p.
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO, São Paulo. A nova organização regional do Estado de São Paulo: subsídios para um modelo de gestão. São Paulo, FUNDAP, 1992, 142p. (Seminários FUNDAP).
INFORMATIVO CEPAM. Consórcio: uma forma de cooperação intermunicipal. São Paulo, Fundação Prefeito Faria Lima, v.1, n.2, 2001, 307p.
INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Desenvolvimento institucional e gestão do espaço metropolitano do Rio de Janeiro. Alternativas e propostas. Rio de Janeiro. IBAM/Iplanrio, 1995, 72p.
KLINK, Jeroen Johannes. A cidade-região: regionalismo e reestruturação no grande ABC paulista. Rio de Janeiro, DP&A, 2001, 225p.
LOPES, Alberto Costa. Construcción de la ciudad y deconstrucción de la pobreza. Memorias del Seminario Internacional Construyendo Hoy las Ciudades del Mañana. Medellín, FORHUM / CEHAP, 1999, p. 87-91. (Ensayos Forhum, 9).
__ . Contribuição para a agenda metropolitana no Brasil. INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Gestão metropolitana: experiências e novas perspectivas. Rio de Janeiro, IBAM, 1996, p. 71-84.
__ . O conceito de espaço metropolitano. Rio de Janeiro, IBAM, mimeo, 1996, 4p.
NEGREIROS, Rovena. Implicações da gestão regionalizada: a região metropolitana da Baixada Santista. mimeo, 12p.
SANTOS, Milton. Espaço e método. São Paulo, Nobel, 1985, 88p.
1 Ver LOPES, Alberto Costa. O conceito de espaço metropolitano. Rio de Janeiro, IBAM, mimeo, 1996, 4p. Uma edição deste trabalho pode ser encontrada em INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. Centro de Estudos e Pesquisas Urbanas. Desenvolvimento institucional e gestão do espaço metropolitano do Rio de Janeiro. Alternativas e ropostas. Rio de Janeiro. IBAM / Iplanrio, 1996, p.11-13
2 Vale a pena observar que, no Brasil, antes da Constituição Federal de 1937, por exemplo, não era bem assim. Essa Constituição, no seu artigo 25, determinou que o território nacional constituiria “uma unidade do ponto de vista alfandegário, econômico e comercial, não podendo no seu interior estabelecer-se quaisquer barreiras alfandegárias ou outras limitações ao tráfego, vedado assim aos Estados, como aos Municípios, cobrar, sob qualquer denominação, impostos interestaduais, intermunicipais, de viação ou de transporte, que gravem ou perturbem a livre circulação de bens ou de pessoas e dos veículos que transportem”.
3 Há experiências no mundo de anexação de municípios, tanto por iniciativa de governos centrais ou nacionais quanto por iniciativa das partes. Ver LORDELLO DE MELLO, Diogo. A experiência internacional em gestão metropolitana. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Gestão metropolitana: experiências e novas perspectivas. Rio de Janeiro, IBAM, 1996, p. 19-48.
4 No caso do sistema de saúde, o advento do sistema único, buscando integrar ações das três esferas de governo para além de suas respectivas circunscrições territoriais, dispôs o assunto de outra forma. Nas regiões metropolitanas, onde a demanda cotidiana circula entre várias cidades conurbadas, o SUS tenderia a gerar mais eficácia das ações de saúde, otimizando inclusive o aproveitamento das redes físicas de atendimento, sem prejuízos para ninguém.
5 Somente a título de exemplo sobre a importância estratégica do assunto para a gestão metropolitana, estudos coordenados por Nora Clichevsky, junto ao Lincoln Institute of Land Policy e com a participação de equipes nacionais de cinco paises latinoamericanos, apontaram significativos percentuais de vazios urbanos tanto nos municípios centrais como no conjunto das respectivas áreas metropolitanas de Buenos Aires, Lima, Quito, Rio de Janeiro e São Salvador. Ver Clichevsky, Nora (ed.). Tierra vacante en ciudades latinoamericanas. Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge, 2002, 141p. Na região metropolitana de Fortaleza já se experimentou estimular a agricultura urbana nos vazios urbanos existentes, como medida de combate à subutilização do solo urbano.
6 Em vez de “cidades”, a expressão melhor seria municípios, em face do disposto no parágrafo 2º do artigo 40, que exige que o plano diretor englobe o território do Município como um todo. Mesmo antes do Estatuto da Cidade, algumas Constituições Estaduais já faziam essa exigência.
7 O caso mencionado da região de Maringá é exemplar neste sentido.
8 Vale lembrar que é comum encontrar em bairros mais pobres de cidades, sobretudo do nordeste brasileiro, famílias que, a despeito da disponibilidade de rede pública de água na sua rua, se abastecem em poços para economizar nas despesas domésticas mensais, uma vez que nesses lugares não se praticam tarifas sociais que tendam à isenção. Onde o nível de pobreza é muito alto e generalizado, a aplicação da tarifa social torna difícil equacionar o equilíbrio financeiro do responsável pelo serviço. Nas regiões metropolitanas, a escala e a diversidade dos usuários quanto à sua capacidade de pagamento, tende a facilitar a redistribuição dos valores das tarifas entre os que podem e os que não podem pagar, garantindo-se o princípio da universalidade na prestação do serviço.
9 Tanto o Chile quanto o Equador formam Estados unitários e não federações, como o Brasil.
10 O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), com a colaboração do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), participa no Rio de Janeiro, sob a coordenação do autor, de uma pesquisa mundial realizada pelo Development Planning Unit (DPU) da Universidade de Londres sobre o tema Comunicação para Meios de Vida Urbanos Sustentáveis.
Publicado no Livro Verde: desafios para a gestão metropolitana de Campinas. Rinaldo Barcia Fonseca, Áurea M. Q. Davanzo, Rovena M. C. Negreiros (orgs.). Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Economia, Núcleo de Economia Social, Urbana e Regional. Campinas, SP, Unicamp, 2002, p. 337-353.
http://www.eco.unicamp.br/index.php/ensino/45-colecao-geral/1995-livro-verde-desafios-para-a-gestao-da-regiao-metropolitana-de-campinas